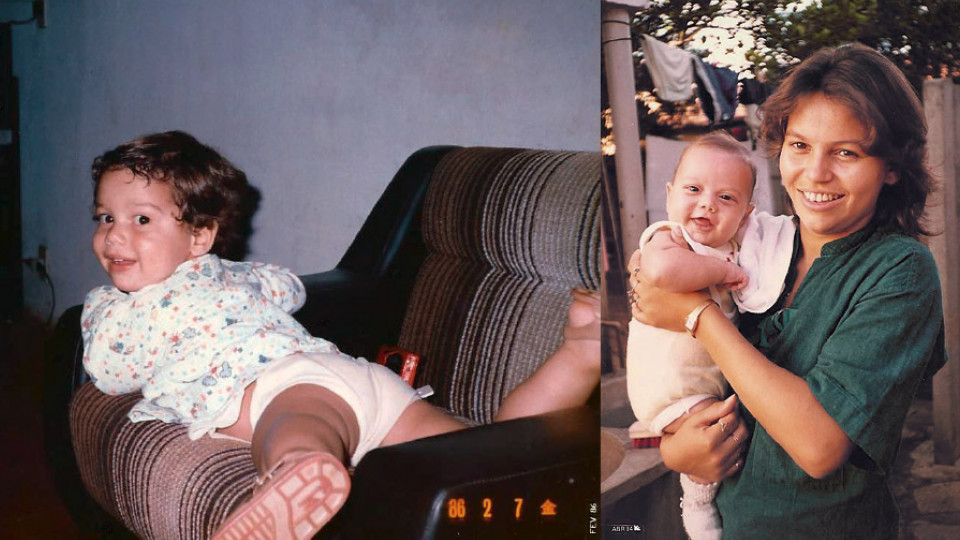Se a arte fosse uma religião, ele seria um monge. Sua dedicação e seriedade fazem dele uma espécie de anti-celebridade que busca apenas o que for transcendental
Enquanto nos afastamos do teatro, seu lugar de conforto, pessoas o abordam pelo caminho desde a descida do palco. O primeiro é um trabalhador da própria Sala Olido, no centro de São Paulo, que pede para tirar uma foto. A dona do pedaço acaba de terminar e Camilo entrou no rol de personagens marcantes de finais de novela. Natural imaginar que o ator que o interpretou logo estará em uma nova atração do horário nobre. Mas talvez não. Lee Taylor tem outro plano. “Novela eu não faço mais”, diz ele, aos 36 anos, com uma convicção que não se alimenta de nenhum arrependimento ou julgamento. A questão para ele é outra, é de busca. Uma busca que o levou a deixar Goiânia, sua cidade natal, aos 18 anos, e partir para São Paulo para ingressar no curso de Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.
LEIA TAMBÉM: Lee Taylor lembra do início da carreia, reflete sobre os desafios da profissão e explica a curiosa origem de seu nome
Quando fala dessa decisão, Lee expressa uma seriedade e um encantamento profundamente ligados ao que chama frequentemente de ofício, em vez de trabalho. “No sentido original da palavra, que é uma obrigação moral do ser humano”, diz. “Se a minha arte não mostra algo além do cotidiano, além do que a pessoa está acostumada a ver, ela não cumpre o seu papel. Quando provoco qualquer sensação, qualquer olhar, qualquer pensamento que fuja desse ordinário, sinto que cumpri a minha missão como artista”, explica. E é aí que seu pensamento se cruza muito pouco com a novela.
Nesse modo de ver a sua profissão, a rotina de criação passa quase sempre por uma imersão longa, com pesquisas e entrevistas. Um percurso artístico que traz todas as características dos nove anos que viveu sob a orientação de Antunes Filho (1929-2019) – “O maior diretor de teatro da história do Brasil” –, fundador do Centro de Pesquisa Teatral, que existe desde 1982 e formou nomes como Matheus Nachtergaele e Alessandra Negrini. O que Lee aprendeu no CPT nem sempre vai ao encontro do que é a rotina de uma novela. Nessa última que fez, sabia muito pouco da personagem ao entrar para o elenco, precisando criá-la diariamente e de modo caótico. “Você recebe o texto em cima e grava 15, 20 cenas por dia, não tem nem tempo para decorar”, explica. “Cara, é infinito, uma tortura.”
Não é bem assim
Quando saiu de Goiânia para perseguir o sonho de ser ator, o jovem trouxe consigo um nome que é coisa de cinema (e de TV), homenagem de seus pais a atores e personagens históricos: Lee (Majors, ator da série O homem de seis milhões de dólares) e Taylor (nome do personagem de Charlton Heston em Planeta dos macacos). Mas esqueça a ideia de que ele realizou um sonho da família. “Eles não me incentivaram a fazer teatro”, diz. “Minha mãe queria que eu fizesse ciências da computação, porque eu sempre gostei de tecnologia. E meu pai queria que eu seguisse a carreira de dentista.”
Mas seu caminho estaria mesmo no palco e dessa trilha ele não sairia mais. “Conhecia pouco do Antunes antes de vir para São Paulo e, nos dois primeiros anos de faculdade, tive contato com alguns atores que passaram por lá e também com alguns trabalhos dele. Quando eu tive esse panorama do teatro paulista e me deparei com o Antunes, pensei: ‘É aqui que eu quero estar, é esse trabalho que eu quero fazer’.” E assim fez. Ingressou na turma de 2004 e, dois anos depois, fez sua estreia como ator e protagonista em A pedra do reino, texto de Ariano Suassuna. “Eu me arrepio de falar sobre isso.”
Foi o primeiro trabalho; vieram outros quatro sob a direção de Antunes em quase uma década de CPT, até se despedir para consolidar a própria trajetória levando consigo o legado de seu mestre. Em 2013, Lee criou um curso de desenvolvimento de atores, o Núcleo de Artes Cênicas. “Tinha muito dos princípios do CPT, mas tinha coisas que eu acreditava que o CPT não tinha e que poderiam agregar muito.”
Contar o que faz lá e como trabalha é algo que faz com satisfação, orgulho e, claro, seriedade. Em alguns momentos, ele desvia o olhar durante uma resposta e se cala, busca as palavras mais certas, ou as memórias mais precisas. Poucos são os rompantes de riso solto. O sorriso é quase sempre silencioso. O tom da voz é baixo, constante e tranquilo. Lee não gosta de chamar atenção. “O ideal do ator é ser invisível, desaparecer.”
Trip. O que você sentiu quando terminou a primeira apresentação de A pedra do reino, sua peça de estreia na carreira?
Lee Taylor. Não me lembro exatamente como fiquei quando terminei o espetáculo, mas me lembro da sensação antes de começar. Isso foi em 2006. Eu era protagonista de uma peça do Antunes Filho, adaptada de um texto do Ariano Suassuna, e o Suassuna estava na plateia. O Raul Cortez tinha acabado de morrer e era uma pessoa importante na trajetória do Antunes. Paulo Autran também estava lá. Claro que pensei em todo mundo que estava lá, mas me sentia em suspensão, em um estado alterado de consciência, uma expansão como ser humano, por estar realizando algo tão vivo, tão potente, tão necessário e tão gostoso.
Que estreia! E foi a personagem que mais me marcou, a que mais precisei dar tudo de mim. Me provocou em todos os sentidos. Eu precisava ir do riso ao choro, era um alter ego do Suassuna e ele colocou toda a dor e toda a delícia de ser ele nessa personagem. Comecei cru, precisei desenvolver todos os recursos possíveis, técnicos e emocionais, para dar conta. Foi a vez que eu mais explorei os meus extremos. A peça me levava ao limite físico, uma hora e meia de falação e de movimentação. Eu dava voltas e voltas por trás da coxia, entrava por um lugar do palco, depois entrava por outro, pouquíssimo tempo para trocar meu figurino. Tinha uma movimentação muito grande e eu me emocionava porque estava exausto, porque quebrava com qualquer formalidade, ficava à flor da pele, e pelo próprio contato com o público. Estava todo mundo ali vibrando na mesma frequência, com uma energia, com uma potência muito grande. Isso me emocionava muito. Achei que eu ia ter um ataque do coração em cena.
Você ainda consegue ter esse encantamento que acaba de demonstrar com tudo o que você faz? Eu tento manter, porque senão perde o sentido. Só faço o que eu faço porque me traz esse encantamento.
Em uma entrevista em 2016, quando estava em sua primeira novela, O velho Chico, de Luiz Fernando Carvalho, você disse que não pensava em televisão quando olhava para a sua carreira. Mas fez, ganhou um prêmio de ator revelação, entrou em seguida no elenco da supersérie Onde nascem os fortes, dirigida por José Luiz Villamarim, em 2018, e agora acaba de encerrar outra novela. Você mudou essa visão? Novela eu não faço mais. A não ser que seja uma participação menor. Já em séries, em que consigo ver o trabalho muito mais próximo do que se faz no cinema, pode ser. E é um período mais curto. Novela é muito exaustivo, a entrega é muito grande. Não é só por isso, mas é isso também. E muitas vezes o resultado não é aquele que você esperava.
Mas o vilão Camilo de A dona do pedaço teve bastante repercussão. Essa personagem especificamente mexeu muito com as pessoas, porque tocou num lugar de uma maldade, de uma crueldade, era tão degradante, tão humilhante, e, ao mesmo tempo, uma coisa tão afetiva, que as pessoas se envolveram. Não tive nenhum retorno hostil das ruas, mas nas redes sociais eu tive alguns muito duros, inclusive com ameaças a mim, pessoa física. As mais grosseiras e agressivas, eu tirei, mas cheguei a fazer alguns destaques no Instagram em que eu colocava as mensagens que enviavam para o Camilo, para a personagem. Foi curioso.
É uma personagem que lida com questões que estão muito vivas em discussões atuais. Sim, de assédio, machismo e feminicídio, principalmente no final.
Você já tinha abordado esse tema como diretor na primeira montagem que fez no Núcleo de Artes Cênicas. Quando você recebeu a personagem, sabia que ia por esse caminho? Não, não sabia. O primeiro trabalho que eu fiz no Núcleo de Artes Cênicas foi a partir do mito de Lilith, a primeira mulher de Adão, que não aceitava a posição inferior nas relações sexuais. Ela queria ficar por cima e por isso foi punida. A partir desse mito, resolvemos tratar de um olhar para o feminino e fizemos algumas entrevistas – todo trabalho do NAC surge a partir de uma pesquisa documental feita pelo elenco. Então, é um tema que, de certa forma, esteve presente nesse momento de criação no NAC. Mas, quando recebi a proposta da personagem, não sabia que ia tomar esse caminho. Tudo o que tinha era um resumo.
Achei que eram descrições mais detalhadas. Essa novela foi feita assim, não era para entrar no ar naquele momento. Era um outro trabalho que estava cotado, então foi feita muito às pressas e recebi um resumo muito breve. Sabia que era um policial, que tinha um relacionamento com uma digital influencer e que a Paolla [Oliveira] faria essa personagem. Além disso, dizia que ele era filho de pais de classe média alta.
O que fez você aceitar? Tinha acabado de ver um trabalho da Amora Mautner, Assédio, e fiquei encantado com a sensibilidade dela. Já tinha ouvido falar muito do jeito dela de trabalhar e achei que seria bacana. Só que é totalmente diferente o trabalho dela como diretora na série e na novela. Foi um lugar que eu ainda não tinha experimentado e que me provocou como artista. Tive dificuldades porque não estava acostumado a trabalhar desse jeito, mas me acrescentou muito. Já fiz desde uma peça que você demora um ano para estrear até uma novela em que você recebe o texto em cima e grava 15, 20 cenas por dia, não tem nem tempo para decorar.
Esse processo caótico que descreveu parece não te fazer bem. Cara, é infinito, uma tortura. Dura seis meses, se o seu personagem não entrar na primeira fase, mas geralmente as novelas ficam em torno de nove meses no ar. Não sei exatamente.
Como fica quando termina um trabalho desse? Traumatizado. Termina assim.
É muito comum ouvir que o aprendizado do teatro ajuda em outras áreas da dramaturgia. E o inverso: leva algo da novela para o teatro? Sim, o entendimento de que é possível criar em qualquer condição, mesmo nas mais adversas. Não precisa ter o material, o texto e o take ideais, não precisa ter nada ideal. Se você é artista, você cria. Chega lá tendo uma ideia geral do que vai fazer e faz. Às vezes fica bom, às vezes fica vergonhoso. Mas algumas vezes saí meio frustrado, pensando: “Caramba, não consegui fazer essa cena do jeito que eu queria, estava inseguro com o texto, com as coisas”. Aí via a cena pronta e falava: “Nossa, funcionou!”. É possível criar em meio ao caos e é possível, sim, construir coisas surpreendentes. Isso eu levo como aprendizado.
Antes das experiências na TV, você chegou ao cinema. Como foi? Minhas referências sempre foram do cinema e, apesar de ter começado no teatro, fui ficando com vontade de experimentar. Já tinha recebido outros convites, mas nada que me fizesse querer deixar de fazer o que eu estava fazendo. Até que, em 2009, surgiu o momento certo. Eu já tinha tido uma boa experiência no teatro, estava bem consciente do que eu estava fazendo e me senti seguro.
Esse primeiro longa, Salve geral, de Sérgio Rezende, falava dessa realidade complicada dos presídios, facções e violência. Esse tema te encontrou novamente agora na série Irmandade, da Netflix. Você se envolveu com o assunto enquanto pesquisava para o trabalho? Sim, são diversos contextos que estão em crise no país hoje e que são urgentes, mas essa questão penitenciária na década de 1990, que é o contexto da série, é inacreditável. Se você pesquisa um pouco mais e vai tendo contato com o que acontecia realmente, entende o que foi o massacre do Carandiru, o que gerou essas facções e, agora, com a dimensão que elas tomaram, fica absolutamente surpreso. Parece que a coisa está num tal ponto que não tem solução, não tem o que fazer com essa quantidade de pessoas.
Sua personagem teve bastante repercussão? Irmandade foi um dos trabalhos em que eu mais tive retorno de público. Me surpreendeu, inclusive. Eu já tinha feito uma outra série na Netflix, duas temporadas de O mecanismo, mas não tinha sido assim. Recebo diariamente dezenas de mensagens de pessoas vendo Irmandade e o mais louco é que são mensagens de gente assistindo em Israel, na Romênia... É muito louco. Olha o alcance que tem isso.
Em Irmandade, Ivan é especialista em explodir coisas. Você explodiria algo? Nossa, eu só consigo pensar nesse sistema político em que a gente está, que é algo que precisa ser implodido imediatamente, explodido. Se não conseguirmos sair desse lugar em que estamos politicamente, desceremos cada vez mais, é ladeira abaixo. Mas parece que as pessoas estão se conscientizando.
Você acha? Cara, eu sou otimista. Não é possível que as pessoas não estejam percebendo o equívoco. Parece tão evidente, é tão transparente, tão gritante! Tenho visto muitos arrependidos e, como artista, se eu não tiver essa perspectiva de que as coisas vão mudar, não tenho condições de continuar.
Essa edição fala sobre a fé, mas não apenas no sentido literal, religioso. Você acredita em algo? Eu acredito e acho que esse algo talvez esteja muito ligado ao ofício que eu desempenho, porque tenho fé na arte, na capacidade de transformação dela. Encaro a arte com muita espiritualidade, pois ela acessa o ser humano num lugar que não tem nada de religioso, mas transcende essa fisicalidade do ser. Toca o ser humano num lugar primordial, no sentido literal da palavra religião, que nos religa a algo ancestral, com o que tem de mais essencial.
Tem alguma coisa que a vida artística te trouxe que você acha que não teria sem ela? Me sinto um ser humano mais completo depois que passei a ter a chance de vivenciar a arte. E mais completo não significa que é só para o bem. A arte me fez conhecer de zonas muito escuras a zonas extremamente luminosas dentro de mim, me ampliou, me fez entender o quanto é humana a contradição. A humanidade aparece quando o erro não é escondido. Se você elimina a fragilidade, deixa de ser humano.
É ansioso? Eu tenho muito autocontrole e, por incrível que pareça, a ansiedade nunca tinha me atrapalhado quando eu era mais jovem. Agora, um pouco mais velho, estou mais frágil nesse sentido, tenho percebido mais momentos de ansiedade, de nervosismo.
Você tira férias todo ano? Fazia muito tempo que eu não tirava férias e aí há uns três anos eu tirei. E fazia uns três ou quatro anos que eu não tirava férias antes daquelas.
Seu médico deve estar feliz. Pois é, cara, depois de uns sustos que tive, agora estou cuidando de mim e pretendo tornar as férias algo mais regular. Por uma série de razões, fui emendando trabalhos um atrás do outro, coisas que eu queria muito fazer... E recentemente comecei a fazer uma reforma na minha casa, uma obra, que é o que mais me desestruturou, realmente me tirou do sério.
Que sustos tomou? Cheguei a parar no hospital umas duas vezes. Fui diagnosticado com distresse, que é um estresse em grau máximo. Faz uns dois meses.
Com a novela bombando. Sim, auge da novela, mas já vinha com esse estresse de antes, então me atrapalhou bastante.
Tem alguma coisa em que você pensa todo dia? Eu penso muito em desistir. Muitas vezes. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Mas tenho outro pensamento recorrente, que é o de continuar.
E não está nada fácil ser artista em 2019. Hoje, o contexto em que a gente vive é muito fértil para a criação, porque a gente é provocado o tempo todo. Não só essas provocações diretas, institucionais, mas com todos os absurdos que estão vindo à tona, decisões políticas absolutamente equivocadas. Estamos vivendo um momento muito propício para se criar. A arte, nesses contextos críticos, passa a ser mais importante do que é em outros momentos.
O que você persegue no seu trabalho? Eu entendo o meu trabalho com o sentido de ofício, não consigo encarar simplesmente como mais uma profissão. Ele não se encerra ali naquela carga horária em que eu estou no teatro, na televisão ou em um set de filmagem. Sou artista em tempo integral. O ideal do meu trabalho como artista é ampliar a visão de mundo das pessoas, fazer com que elas comecem a perceber coisas que talvez no cotidiano não tenham a oportunidade de perceber. Se a minha arte não mostra algo além do cotidiano, além do que a pessoa está acostumada a ver, ela não cumpre o seu papel. Quando provoco qualquer sensação, qualquer olhar, qualquer pensamento que fuja desse ordinário, sinto que cumpri a minha missão como artista.
Quando saiu de Goiânia, aos 18 anos, já tinha tido contato com o teatro? Eu comecei a fazer teatro em 1997, na escola, incentivado pela minha professora de educação artística, que percebeu que eu era uma pessoa muito inquieta. Estou sendo bem eufêmico em falar “inquieto”, era impossível dentro da sala de aula. Aí ela falou: “Acho que pode gastar essa energia com uma coisa que vai ser interessante” e me apresentou o teatro. Fiquei realmente encantado, essa é a palavra.
Como foi a sua chegada a São Paulo? Eu me mudei em 2002 para fazer a Escola de Comunicação e Artes na USP, no curso de artes cênicas. E, em 2004, entrei no Centro de Pesquisa Teatral. Conhecia pouco do Antunes antes de vir para cá e, nos dois primeiros anos da faculdade, tive contato com alguns atores que passaram por lá e também com alguns trabalhos dele. Quando eu tive esse panorama do teatro paulista e me deparei com os trabalhos do Antunes, pensei: “É aqui que eu quero estar, é esse trabalho que eu quero fazer”.
Você entra no CPT em 2004 e aí faz uma jornada de uma década, em que deu aula, inclusive. Quase dez anos. Saio de lá em 2013.
E como era estar lá? Estava começando a minha carreira, em algo que eu estava gostando muito de fazer. Os trabalhos que estava desenvolvendo no CPT com o Antunes Filho estavam me suprindo muito como artista, como ser humano, me preenchiam. Era absolutamente engrandecedor e eu estava aprendendo muito ali, começando ao lado dele.
E como é a decisão de sair desse lugar em que tanto quis estar? Depois de nove anos com o Antunes, entendi que eu já tinha contribuído com tudo que eu poderia contribuir e já tinha, de certa forma, trocado o tanto que dava para trocar. O CPT me consumia muito tempo, eu ficava lá seis vezes por semana, praticamente do meio-dia às 11 da noite, de segunda a quinta. Sexta era só ensaio, e sábado, ensaio e apresentação à noite. Eu não conseguia trabalhar com outras coisas e conversei com ele. Foi doloroso sair. Era um ambiente confortável, em que tive muito espaço como artista e autonomia para experimentar. Mas estava no meio de um mestrado e, em 2013, estava me dedicando também à criação do Núcleo de Artes Cênicas.
Você gosta de formar outros atores? Eu não sei se é formar, eu preciso muito dessa troca, me alimento dela e principalmente de uma renovação dos princípios, sabe? Rever sempre, avançar retrocedendo, como Nietzsche prega. Funciona bem para mim. Sempre volto aos meus princípios e os transformo compartilhando a minha experiência com artistas que estão começando. Isso me renova. Nunca me senti um professor, e sim um artista pedagogo.
O que vocês passam de fundamental para esses atores jovens? A gente faz uma preparação técnica, uma ampliação das referências, um refinamento da sensibilidade e, principalmente, uma busca por ampliar a visão de mundo. Acreditamos que eles estão aqui não só para se desenvolverem tecnicamente, mas para entenderem do ofício, no sentido original da palavra, que é uma obrigação moral do ser humano. O palco é o espaço em que a gente pode se expressar, mas isso está absolutamente vinculado ao que a gente está vivendo hoje na sociedade.
Me fala um pouco da sua família. A minha mãe é cabeleireira e o meu pai faz um pouco de tudo, hoje é motorista. Eles se separaram quando eu tinha 2 anos e a maior parte da minha vida morei com a minha mãe. Meu pai se casou com outra mulher e teve uma filha e um filho, com quem tive contato. Tenho outros irmãos de outros relacionamentos do meu pai, mas só convivi com esses, que eram do relacionamento mais oficial dele.
Você tem vontade de ter filhos? Isso é transitório na minha vida, às vezes eu tenho vontade, em outras acho que foi uma escolha muito sábia chegar aos 36 anos sem filhos, diferente dos meus pais e da cultura que se tem de onde eu vim, em que boa parte dos objetivos estão vinculados a essa formação de família. Eu ainda não tenho esse desejo.
Está em algum relacionamento agora? Não, estou solteiro.
Faz terapia? Comecei a fazer há dois meses. Está sendo interessante. Não é tão diferente do que fazemos no teatro. A gente busca entender o ser humano na sua complexidade e olhar para si, se conscientizar, se ampliar. Então não é algo que me é estranho.
LEIA TAMBÉM: De ”Que Horas Ela Volta?” a ”Bacurau”, Karine Teles é atriz onipresente no cinema nacional
Pratica alguma atividade física? Não tenho conseguido. Teve uma época em que consegui fazer slackline e eu adoro. Me coloca num estado de concentração e de organização, sabe? É muscular e, ao mesmo tempo, me diverte, me desafia, acho bacana.
Como é a sua relação com o seu ego? O mais interessante para mim como artista de teatro é desaparecer. Acho bom que as pessoas não me vejam, não me reconheçam. O importante ali não sou eu, e sim o que eu estou portando, apresentando, revelando. O ideal do ator é ser invisível, é desaparecer.
Não combina mesmo com a descrição de um ator de novela. [Risos] Pois é.
Créditos
Imagem principal: Marcio Simnch
Coordenação Geral ADRIANA VERANI Assistente de Produção LETÍCIA PUGLIESI Beleza JÔ CASTRO (CAPA MGT) Assistente de foto GUSTAVO BARROS Tratamento RG IMAGEM Agradecimentos GALERIA OLIDO