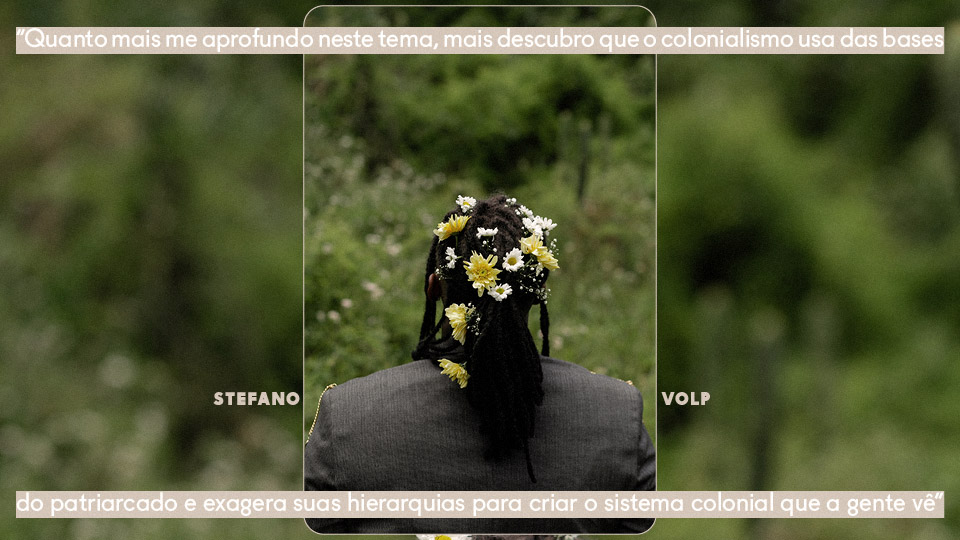Autor de cinco livros, o escritor leva para a ficção dramas reais sem medo de tocar nas feridas mais profundas do Brasil: ”A gente constrói história num país que atua para apagar sua própria história”
Quando li Stefano Volp pela primeira vez pensei na minha própria história. Cresci em uma família com poucos recursos financeiros na Grande São Paulo, meu pai sumiu de casa quando eu tinha oito anos e, apesar das poucas perspectivas, acendi socialmente por meio da educação, incentivado por minha mãe e tia. Hoje, porém, convivo com uma sensação violenta de não pertencimento na maioria dos lugares que frequento: não me vejo exatamente no mundo classe média dos jornalistas e acadêmicos onde trabalho, mas também sou diferente dos meus que continuam na periferia. O que fica nesta história é que, como desertor de classe em meio a inúmeras violências simbólicas, acabo visitando minha família cada vez menos, geralmente em aniversários e velórios — assim como em “Santo de casa”, novo romance do escritor, roteirista e diretor.
Na história, três irmãos se reencontram na casa da mãe após a morte inesperada e brutal do pai, que foi atacado por uma onça. Esse encontro é marcado por inúmeras contradições e segredos que, gradualmente, são revelados pelo autor. A irmã transexual, a mãe “guerreira” que não sabe muito bem lidar com o luto, o irmão “heterotop”, e as marcas das violências do pai que reverberam na vida de todos.
LEIA TAMBÉM: "A literatura deve pertencer ao povo", diz José Falero
“Os personagens do livro não existem na vida real, mas, ao mesmo tempo, são inspirados em dramas reais. A paternidade é praticamente uma questão epidêmica no nosso país, basta ver a quantidade de certidões de nascimento sem o nome do pai”, conta o escritor à Trip.
Com cinco livros publicados, Volp se dedica a pensar masculinidades, diversidade sexual e de gênero, além de a importância de criar narrativas que representem grupos historicamente marginalizados. A partir de um mergulho nas fragilidades e contradições humanas, suas histórias fazem o leitor se identificar imediatamente.
Nascido em uma família negra de baixa renda com sete filhos em Vitória, no Espírito Santo, ele deixou a cidade e foi morar no Rio de Janeiro ainda criança — por isso se considera carioca. Fez sucesso em 2022 com o livro “Homens pretos (não) choram”, uma coletânea de contos que discute a masculinidade negra e suas vulnerabilidades. No mesmo ano, seu romance policial “O beijo do rio” passou pela curadoria do clube do livro da TAG e já vendeu mais de 30 mil exemplares — no Brasil, um livro é considerado um best-seller quando vende 15 mil exemplares, conforme a Câmara Brasileira do Livro (CBL).
Dono da produtora chamada Breu, ele pretende se dedicar à carreira de diretor este ano: vai rodar pelo menos três curtas-metragens até 2026 e está prestes a lançar seu primeiro filme como diretor, uma adaptação de um próprio livro. No entanto, segue usando a força das redes sociais e a influência no mercado editorial e audiovisual para inspirar jovens periféricos a se dedicarem à escrita.
Em “Santo de casa”, Volp deixa claro que quer falar sobre o patriarcado e aproximar seus leitores do assunto que julga ser um mais importantes e urgentes da atualidade. “O processo de consciência racial no Brasil aproxima as pessoas da discussão de gênero, porque quando falamos de racismo é inevitável falar do patriarcado. Quando entendi que gênero é uma construção social, descobri que o patriarcado é um dos males mais terríveis no mundo ocidental. Quanto mais me aprofundo neste tema, mais descubro que o colonialismo usa das bases do patriarcado e exagera suas hierarquias para criar o sistema colonial que a gente vê”, diz.
LEIA TAMBÉM: "Ler é exercício de estar no lugar do outro", diz Itamar Vieira Junior
Trip. Em o "Santo de casa", você aborda questões como patriarcado, machismo, classismo e LGBTfobia ora de maneira sutil, ora mais escancaradas. Como falar desses temas sem cair no lugar óbvio da internet que reproduz esses termos desenfreadamente nem em um lugar acadêmico, que teoriza, mas às vezes não conecta com a realidade?
Stefano Volp. A internet é uma versão embaçada da realidade que esconde nossas contradições. Na vida real não temos tempo para reagir como fazemos online, podemos gostar de duas divas pop com fã-clubes rivais ou ser a favor de dois conceitos que se bicam. Quando se sofre homofobia, racismo ou outro tipo de discriminação, às vezes não dá tempo de reagir, de elaborar uma resposta lacradora na rua. Você elabora só quando chega em um lugar seguro e pensa: “poderia ter falado isso”. São as contradições que investigo nesse livro. O Zé Maria, o pai, não é só um homem violento, ele é muitas outras coisas, e também demonstra afeto da forma dele. Na sua cabeça, ele não é vilão, é o protagonista da própria história. Ninguém é perfeito neste livro, todo mundo esconde alguma coisa, porque na vida real a gente faz isso e vai aprendendo com as nossas contradições. Na internet você edita, deleta uma coisa que disse no passado, mas fora dela não dá, você tem que seguir o baile. Não sei se temos muito espaço para a contradição na academia ou na internet. Por isso quis trazer pro meu livro.
Quando li o livro, pensei na história da minha família. Me vi nos personagens e pensei no meu pai, que se separou da minha mãe na minha infância, mas cuja ausência ainda deixa marcas profundas. Os personagens desse romance são reais? É a primeira entrevista que estou fazendo e não esperava ouvir isso. Esses personagens são inspirados nos dramas reais da sociedade. É muito interessante ouvir como bate para você e como te faz pensar na sua família. A paternidade é praticamente uma questão epidêmica no nosso país, basta ver a quantidade de certidões de nascimento sem o nome do pai. Nossas histórias são cruzadas. Tenho uma família grande, com seis irmãos, e na minha vida tive um pai presente, porém ausente. Sete filhos criados com uma renda super baixa por uma mãe guerreira, professora, que quis enveredar os filhos pelo caminho da educação como libertação daquele mundo que a gente vivia. Acho que fui cercado por muitos afetos e desafetos na minha história. Meu livro não é uma autoficção, porque não existem esses personagens na vida real, mas, ao mesmo tempo, são inspirados em dramas reais. A ficção permite que a gente costure dados da realidade, eventos, traumas, afetos, para criar personagens que tentam dar conta das múltiplas identidades e dinâmicas sociais.
Histórias que refletem traumas da nossa sociedade… Esse papo me lembrou do que meu terapeuta me falou que guardei pra vida: o tempo do nosso inconsciente não é cronológico. Ao mesmo tempo que tenho 34 anos, também tenho 20, 12, 4 anos, sou todos esses “Volps” ao mesmo tempo. Apesar de ter muitos anos que seus pais se separaram, muitas coisas permanecem. As coisas permanecem mesmo porque somos uma soma de todos os anos que já vivemos na vida. Entender isso me deu um conforto para perguntas do tipo: “Quando essa dor acaba?”, “Quando esse sentimento vai embora?”. Às vezes não vai embora, fica e a vida segue.
Por que você escolheu falar a partir da figura do patriarca? O homem branco e hétero ocupa o topo da pirâmide social em relação a poder e dominação. Precisamos falar sobre isso, porque enquanto o homem branco ocupa esse lugar, o homem preto também tenta ocupar esse lugar, e esse sistema de dominação é violento para todo mundo, inclusive para o próprio homem, que está no topo da hierarquia. Não acho que seja uma novidade debater sobre masculinidades, mas, ao mesmo tempo, faz pouco tempo que olhamos para isso com profundidade. Somos um dos países que mais mata mulheres no mundo. Esse tema está ao nosso redor e, para compreendê-lo, precisamos entender quem é o homem violento, de onde vem essa força, como essa identidade se constrói. Será que o homem violento é só violento ou ele também pode ser outras coisas? Meu livro tenta levantar essas bolas pra gente poder, no debate público, fazer esse assunto acontecer e pensar sobre ele.
Quando você descobriu o patriarcado? O patriarcado está presente o tempo todo, a gente só não sabe dar nome aos bois. No meu processo de conscientização e letramento racial, comecei a nomear as dores que eu sentia, e foi quando comecei a me perguntar o que é ser homem. Quando entendi que gênero é uma construção social, também entendi que o patriarcado é um dos males mais terríveis no mundo ocidental, da nossa geração. Quanto mais me aprofundo nisso, mais descubro que o colonialismo usa das bases do patriarcado, exagerando suas hierarquias, para criar o sistema colonial que a gente vê. O processo de consciência de raça no Brasil aproxima as pessoas da discussão de gênero, porque quando falamos de racismo é inevitável falar do patriarcado.
O mercado editorial, e tantas outras áreas na comunicação, é um espaço que segrega demais. Há uma diferença grande entre o número de autores negros e brancos publicados por grandes editoras. Ainda há a necessidade de afirmação em um mercado elitista e majoritariamente branco? Liberdade é uma luta constante, como falou Angela Davis. “Descansa militante”? Na verdade, o militante não pode descansar. Com os diretos conquistados com tanto esforço por pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, a gente não tem tempo para parar e descansar, porque, além de não avançar, eles podem ser perdidos. O exemplo dos Estados Unidos tem sido um terror, um pesadelo, e mostra como um governo de direita pode usurpar direitos duramente conquistados por uma nação de forma democrática. É um cenário de luta. Cada lançamento é uma luta para minha afirmação, da minha imagem, tentando ocupar um espaço que o sistema diz que não é meu lugar. Daí temos que contar com ajuda dos nossos aliados, é sempre um esforço. A militância virou uma palavra gasta por conta da internet, mas sem ela eu nem estaria aqui dando uma entrevista.
Diferente de muitos países europeus, o Brasil está construindo sua história a partir do resgate das diversas identidades presentes no nosso território a partir da nossa cultura. Como foi o processo de reconstrução da memória até você chegar neste romance? Esse livro é protagonizado por uma família negra brasileira contemporânea, e se a gente for falar da memória dessa população no Brasil, é uma memória interceptada pelo sistema colonial, que vai embaralhar a identidade dessas pessoas. Esse processo, além de nos desumanizar, confunde a nossa própria história. A gente constrói história num país que atua para apagar sua própria história. Gosto de falar que esse livro é uma colcha de retalhos ancestral. Vai falar da violência, mas vai falar dos afetos, da escassez. Todos os elementos foram escolhidos intencionalmente. E às vezes as pessoas nem sabem. A foice que fala da relação com as ervas medicinais, a culinária, a arquitetura da casa, a obra onde eles brincavam, o trabalho braçal, a presença muito forte da igreja evangélica... Esses elementos são uma tentativa de remendar nossas histórias que foram estilhaçadas, espalhadas pelo colonialismo no Brasil.
A gente vive num país extremamente perigoso para a população LGBTQIAPN+, racista e desigual entre pobres e ricos. Neste contexto, o que é violência para você? De que maneiras ela pode se manifestar? A violência é toda forma de agressão ou de abuso que causa dano a outra pessoa. Talvez a violência seja uma manifestação desigual de poder, em que alguém tenta se impor, controlar, subjugar o outro. A violência nasce a partir dessas dinâmicas desiguais. Se a gente olhasse o outro de forma mais igualitária, poderia ser o caminho para uma comunicação não violenta. No livro eu quis trazer a violência física para esta conversa porque acho que ela é muito presente no Brasil, trouxe estatísticas sobre feminicídio. Mas outra violência que me interessa é a simbólica. Porque ela não deixa uma marca física, às vezes é invisível, você nem sente e ela te contamina, ela te destrói sem você ao menos perceber. Muitas vezes você não tem como provar, não dá pra fazer exame de corpo de delito. São violências que a gente nem sabe nomear. Eu também sou vítima, um filho criado por um pai ausente, violento, um homem gay e preto na sociedade. Essa violência simbólica me interessa muito.
LEIA TAMBÉM: A escrevivência de Conceição Evaristo
Como são essas violências? Qualquer LGBTQIAPN+ no Brasil vive a violência simbólica. Ela está no olhar do outro, numa não permissão, nas dinâmicas sociais, nas formas mais singelas. Quantas vezes já ouvi piadas, recebi olhares ou não pude me sentir confortável em tantos lugares por causa de uma violência que não é física, não é falada, mas ela está ali, dizendo que para estar naquele lugar você precisa seguir uma série de códigos. A escrita ajuda a elaborar essa violência. A escrita tem um poder de transformação social.
De que maneira? Como escritor, roteirista, a gente atua nessa reconstrução mitológica sobre as pessoas, sobretudo aquelas que são marginalizadas na sociedade. É de fato reconstruir o mito. Por exemplo, a Betina é uma personagem trans muito segura de quem é, mas a transição de gênero não é uma questão. Ela tem o drama de ter vivido um relacionamento quando se identifica como Alberto, foi embora do bairro, mas volta depois da morte do pai e busca curar um vazio existencial. Então, trazer questões que são entregues a outros tipos de personagem é fazer esse drama passear entre quem geralmente é estereotipado na literatura, na TV… Vivemos histórias múltiplas e todas as pessoas têm direito de ser representadas de formas múltiplas na literatura. Espaços que ampliam essas vozes são muito importantes, inclusive nessas complexidades. Espero que esse livro possa servir para criticar o sistema patriarcal, que é uma das maiores dores que aparece ali. É um sistema que precisa ser revirado e isso só vai acontecer enquanto a gente puder debater. A leitura e a fala são um privilégio. Um tempo atrás, na ditadura, esse livro seria caçado e eu seria preso. Temos privilégio de discutir temas tão importantes.
Créditos
Imagem principal: Victor Vieira (@victorvieiraph)
Fotos: Victor Vieira (@victorvieiraph)