Ronnie Von
Um disco "revolucionário" dos Beatles fez virar a cabeça do cantor e apresentador de TV
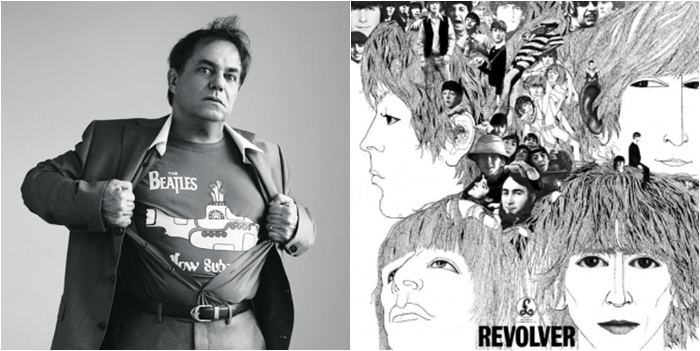
Ronnie Von e a capa do LP Revolver, dos Beatles
Não por acaso Ronnie Von, o eterno príncipe da jovem guarda, estava vestindo uma camiseta dos Beatles quando contou a Trip o que mudou sua vida. Escalado para participar do ensaio de moda da edição #188, estampou no peito e na escolha sua paixão pelo quarteto de Liverpool.
“Beatles, indiscutivelmente. Tem um que revolucionou. Tem quem fale em Sgt. Peppers, eu acho que não. O processo revolucionário começou antes. O Rubber Soul já tinha uma pegada, mas Revolver mudou mesmo. Para mim, esse é o disco revolucionário dos Beatles. Desde o primeiro disco deles começou a mudar o meu jeito de ouvir música. Rubber Soul começou a virar minha cabeça para 180 graus e o Revolver para mais 360º [risos].”
LEIA TAMBÉM
MAIS LIDAS
-
Trip
Bruce Springsteen “mata o pai” e vai ao cinema
-
Trip
O que a cannabis pode fazer pelo Alzheimer?
-
Trip
Não deixe a noite morrer
-
Trip
Entrevista com Rodrigo Pimentel nas Páginas Negras
-
Trip
5 artistas que o brasileiro ama odiar
-
Trip
Um dedo de discórdia
-
Trip
A primeira entrevista do traficante Marcinho VP em Bangu






