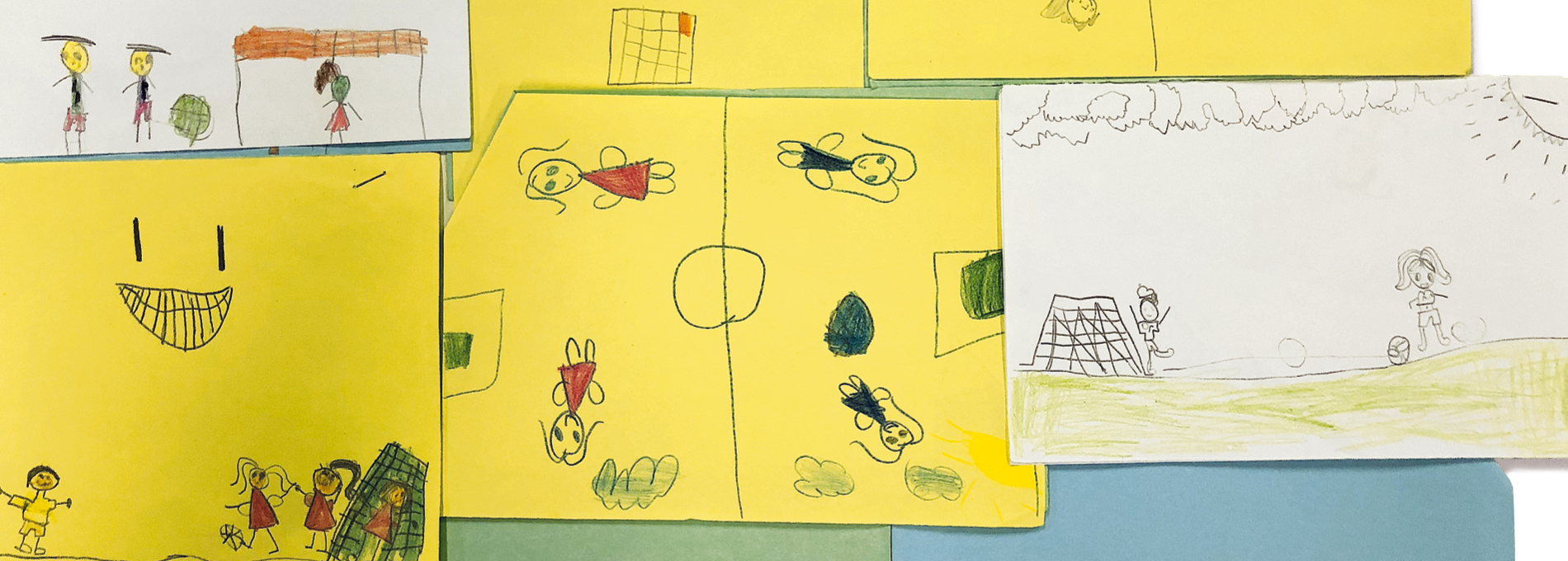Coletivos formados por meninas crescem nas escolas públicas e particulares e trazem à discussão o machismo praticado dentro (e fora) dos muros das instituições
Sair para descobrir o mundo das meninas, ou o mundo feminista, é revelador e fascinante. Fortes, articuladas e empoderadas – palavra da moda, mas que as representa muito bem –, elas têm força de fala e escuta. São meninas que estão construindo possibilidades nunca antes permitidas. Coisa de gente grande e que sabe a importância de lutar pelos seus direitos e lugar em sociedade. As meninas estão por aí e tem muita menina foda. Pelos movimentos de rua, nas redes sociais, nas batalhas de Slam, na política, nos coletivos, em casa e nas escolas. Sim, nas escolas como nunca antes foram vistas.
Foi-se o tempo em que os grêmios eram praticamente donos das falas para um grande grupo do colégio. De alguns anos para cá, as meninas passaram a ocupar lugar de liderança nesses espaços coletivos. São elas hoje que puxam as conversas, articulam com professores e coordenadores, espalham cartazes pelas escolas, passam em salas de aula para dar recados e convocar participações. Os espaços públicos das escolas se tornaram um grande palco de fala e escuta para as meninas que, ao se darem conta que precisavam se unir, começaram a formar coletivos feministas.
LEIA TAMBÉM: Muito além do lacre: pajubá, o dialeto LGBT+ que já foi usado como linguagem em código e instrumento de resistência
E eles são muitos. O número não é oficial porque a Secretária de Educação do Estado não tem essa medição, mas estima-se que os coletivos estejam presentes em 90% das escolas, entre particulares e públicas. Eliane Leite, diretora geral da Etec (Escola Técnica Estadual) Pirituba desde 2014, conta que os grupos se formam muito por necessidade. A Etec é uma escola de ensino médio com cursos técnicos e boa parte deles estão nas áreas de exatas, como informática e engenharia. Agora, imagine mais de mil alunos circulando pela escola, e uma sala de ciências com 45 estudantes na qual só duas são meninas. “Ainda temos um masculino muito mal trabalhado que faz com que esse menino, que está em sala de aula, reproduza o machismo que vê em casa, na televisão e nos ambientes em que circula”, explica Eliane. “Todo mundo é machista, mas a reprodução sem uma reflexão de tudo isso fica muito pior.”
Daí a demanda de ter um espaço para que elas reflitam sobre questões que as incomodam e possam se aprofundar nos assuntos. Para se fortalecerem, se apoiarem e se entenderem entre piadinhas sem graça. “Acredito que o papel da escola seja esse: abrir espaço para que essas discussões aconteçam e temos que acolher todas as diversidades também”. “A escola é um treino de cidadania”, pontua.
Fica muito claro o papel e a importância não só do apoio da diretoria, como também do corpo docente, aos coletivos feministas. No dia a dia, são os professores que dialogam, discutem, instigam e ajudam a fortalecer os grupos. Foi assim o começo do 'Eu não sou uma gracinha', da Escola Nossa Senhora das Graças, no Itaim Bibi, em São Paulo. Com a ajuda das professoras de história, as meninas começaram a se organizar em plataformas de mídias sociais escolhendo textos a serem debatidos. O espaço tomou corpo e elas foram trabalhando em torno da pauta que mais parecia esquentar.
LEIA TAMBÉM: A educação pode combater a lgbtfobia? Professores, alunos e ativistas falam como funcionaria uma escola inclusiva
“Assédio em festinhas, a dificuldade de manter amizade com meninos sem se sentir desrespeitadas, o shorts curto, o futebol que não se pode jogar e algumas questões de âmbito nacional, como, por exemplo, o vagão rosa”, conta Júlia*, integrante-fundadora do coletivo em 2014, quando tinha 15 anos, e hoje estudante de psicologia da PUC-SP. “Começamos a perceber que o machismo que a gente discutia estava ali dentro e, às vezes, tinha suporte da própria escola e dos pais”, pontua. “O coletivo nasce como um espaço em que a gente consegue lutar por um lugar, uma educação mais inclusiva e que discute gênero.”
A importância de conscientizar quem está no dia a dia parece se tornar algo imprescindível. “Elas querem mudar o mundo”, diz Leticia Bahia, umas das sete fundadoras da revista Az’Mina e representante brasileira da rede social feminista Girl Up, parte dos projetos apoiados pela ONU. Leticia visita e frequenta grupos feministas de escolas e tem como trabalho ajudar esses coletivos a se estruturarem. “Elas têm o potencial para realizar, mas nem sempre as ferramentas para se organizar, principalmente as mais novas”, conta. “O Girl Up oferece as ferramentas, sugere formas de organização e atividades que podem ser realizadas. Além disso, há muita troca com outros países. As meninas são um motor incrível, nós apenas colocamos um pouco de combustível”. E quando a coisa cresce, elas mesmas passam a ser esse mesmo combustível pra quem está chegando.
“Questionei o sistema”
“Nasci uma criança condenada à sina feminina, sem voz, silenciada. Questionei o sistema, me tornei uma menina. Ergui o punho para um abusador, me converti em uma garota. Hoje, existo porque resisto. Quem sabe um dia tenho a honra de me tornar mulher” – Bárbara, publicado no fanzine do coletivo 'Eu não sou uma gracinha'.
Júlia*, do Gracinha, define o feminismo como a luta por uma existência feminina sem correntes. “É ir contra um sistema patriarcal que lucra em cima do sofrimento e do corpo da mulher, que respalda agressão, que defende estupro e assédio e estabelece uma educação conservadora, que promove a manutenção dessa engrenagem. Feminismo é lutar contra isso e querer que isso, algum dia, deixe de existir para todas as mulheres.”
Experimente dialogar com meninas que se encontram diariamente no grêmio da escola aparelhadas de livros, vídeos, textos, TEDs e o que mais você imaginar. São as heroínas das escolas, as mulheres que as mais novas querem ser. E a ideia, quando se reúnem, é trazer o maior número possível de pontos de vista. “Não queremos entrar em consenso, mas discutir sobre algo que aconteceu e pensar em como podemos evitar ou transformar ”, explica Silvia*, aluna do colégio Santa Maria, e integrante do coletivo Santa Sororidade. E meninos também são bem-vindos em algumas dessas conversas. “Quando os temas são abertos, costumamos convidá-los a participarem, mas muitas vezes eles não vêm. Têm medo de serem tachados de ‘amigos daquelas meninas peludas’”, conta Débora*, do Santa Sororidade.
Enfrentar o estereótipo do coletivo feminista “machão” também faz parte da luta. “Uma organização de mulheres que visa trazer discussões sobre gênero mexe com questões estruturais da sociedade”, pontua Júlia*. “Acredito que é dever do coletivo chamar mulheres e homens, cada um dentro do que pode fazer, a construir o movimento feminista em conjunto e, para isso, é necessário romper esse preconceito com didatismo e paciência”.
As meninas que hoje lideram o coletivo Eu não sou uma gracinha tem o mesmo posicionamento e sempre que podem trazem os meninos para perto. Aliás, trazem mães também. O empoderamento da fala, de início, trouxe embate dentro de casa. O que era, para elas, um posicionamento, para as mães soava como enfrentamento. Era preciso ajustar as falas e uma dinâmica foi organizada na escola com o apoio da direção. “Ao final da reunião, elas entenderam o que acontecia com a gente e nós conseguimos ver que elas também são mulheres e enfrentam muito do machismo que a gente também enfrenta”, contou Luzia.
Se reconhecer na dor da outra e no lugar da outra é das conquistas mais importantes que os coletivos trazem. “É muito bom estar em um grupo de meninas no qual você consegue se identificar”, diz Laura. “E realmente ocorre a sororidade, que não é só um termo”. Essa empatia que faz com que mais e mais meninas se juntem. “Se tem uma coisa do coletivo que para mim valeu a pena, foi ver as pessoas mudarem”, se orgulha Mariana, do Santa Maria. “Algumas meninas olham e pensam: ‘quando for para o ensino médio, eu quero entrar no coletivo’. Isso é gratificante. É esperança de que mais para frente vai deixar de existir porque não vai mais precisar. Teremos alcançado o que tanto buscamos”, reforça Helena.
Uma busca muito maior do que equidade de gênero. Até porque muitas delas não acreditam em gênero. Aqui vale outra matéria, mas para essa geração, gênero é muito mais amplo e vasto que feminino e masculino. “Eu acredito que você não nasce mulher, você é criada e ensinada sobre o que é ser uma mulher, o que tem que usar para ser considerada uma mulher, são muitos modos de pensar isso”, exemplifica Olivia, do coletivo Eu não sou uma gracinha. “Quanto mais a gente descontrói isso, mais ganha liberdade.”
LEIA TAMBÉM: A primeira livraria feminista de Santa Catarina - criadoras listam à Tpm dez livros para pensar o feminismo atual
Peito cheio
“Ser feminista é bacana, mas vai ser feminista na periferia”. O alerta é da diretora Eliane, da Etec de Pirituba. “Aqui você precisa entender qual seu espaço e se preparar para o enfrentamento”. É perceptível a necessidade de entradas de atuação como a do Girl Up ou do Plano de Menina para ajudar os coletivos de escolas públicas a se organizarem de forma estruturada. “É muito comum ver coletivos feministas começarem e morrerem”, revela Leticia. Isso porque não sabem como articular, ficam inseguras porque muitas vezes não encontram apoio na escola e muito menos em casa. O nível cultural do machismo é alto na periferia e, para lutar contra tantos preconceitos, precisa de coragem.
E é incrível ver esse peito cheio do coletivo da Emef General de Gaulle, escola municipal que fica dentro da favela, no bairro Jardim Ibirapuera, periferia de São Paulo.
Um grupo de cinco adolescentes (Gustavo*, Teresa*, Juliana*, Carla* e Luísa*), tinha um desafio escolar a cumprir: escolher um tema para o TCA (trabalho de conclusão autoral). Eles queriam falar sobre suicídio, mas já tinha outro grupo com este assunto. O professor de geografia, Eduardo Quarenta, sugeriu “o papel da mulher em sociedade”. “Estávamos próximos ao Dia da Mulher e fazia sentido puxar o gancho naquele momento”, conta Eduardo. “Quando surge a ideia de falar sobre a mulher, logo surge a ideia do machismo”, diz Carla*. “Porque é algo que a mulher sofre todos os dias e não é uma coisa que a gente a fala nas escolas.” E é na escola que tem menino passando a mão em menina pelo corredor, proibindo-as de usarem a quadra, dizendo que o lugar delas é na cozinha.
O incômodo vivenciado na escola – e que poderia acabar num trabalho impresso de TCA na biblioteca – tornou-se um grande movimento interno. Individual e coletivo, quando a gente olha para a escola com cerca de mil alunos e percebe as mudanças que o trabalho gerou. Espalhar cartazes machistas, como uma primeira atividade de conscientização, deu ao grupo uma noção do que vinha pela frente. “Ficamos observando a reação do pessoal e pegamos muitos meninos dizendo: 'Nossa, que errado'”, relata Juliana*, 14 anos. “Depois, passamos nas salas nos 8º e 9º anos fazendo perguntas em tom machista e incentivando as pessoas pensarem sobre o tema.” Um primeiro momento que resultou em debate e teve a participação da inspetora do pátio falando sobre machismo e orientando as meninas.
De uma primeira atividade, surgiram inúmeras outras que foram empoderando o grupo, não só na escola, mas dentro de casa, para travar as primeiras conversas. Há quem não aceite mais lavar a louça sozinha enquanto o irmão assiste televisão. Há quem não aceite mais ter que varrer a casa porque isso é “coisa de menina”. “Meu irmão, em casa, é meio machista”, conta Carla*. “Outro dia, ele falou para minha mãe: ‘Me dá o celular, eu sou homem e mando’. E eu disse: ‘Você vai deixar ele falar assim com você?’”. “Na minha casa, não é nem meu pai que é machista, é minha mãe”, revela Luísa*. “Ela diz: ‘Você é menina e tem que fazer isso’. Mas não, todo mundo tem que fazer igual”.
Porque é sobre igualdade que os coletivos feministas falam e defendem. “A gente quer poder as mesmas coisas. Feminismo é sobre isso, igualdade”, explica Carla*. “Se a gente não conseguir igualar, pelo menos, vamos ter certeza de ter aberto a mente das pessoas”, pondera Mariana.
O mesmo buscam as meninas do coletivo da Etec Pirituba. São quase 40 meninas, que se reúnem quinzenalmente para discutir temas relativos ao universo feminino. “As pautas surgem, muitas vezes, de coisas que a gente passa na escola”, conta Paloma*. “Sentar e conversar sobre esses temas ajudam a gente entender o que está acontecendo e a nos unirmos. Sinto que hoje em dia a gente se respeita muito mais do que antes.” Sim, falar sobre feminismo cria sororidade. Elas deixam de competir e passam a entender que a outra não é a inimiga, mas, sim, a pessoa que está passando pelo mesmo que ela. As meninas sentem empatia umas pelas outras. Se ajudam e se fortalecem.
LEIA TAMBÉM: Quem precisa de educação? A saída é a educação. Não está na hora da elite liderar essa transformação?
Na Etec, o coletivo tem o suporte do Plano de Menina, coordenado pela Julia Teodoro, ex-aluna. O Plano atua trazendo conteúdos que são organizados em 5 disciplinas, com palestras e atividades, além de levar as meninas para diferentes eventos pela cidade. Sob o slogan “toda menina tem um plano”, o projeto, que é social, tem como missão promover a transformação e a conscientização de meninas que se tornarão protagonistas de suas próprias histórias. As coordenadoras do Plano trazem temas como aborto, violência, ambiente de trabalho, relação em comunidade, religião, eleições, viagens, racismo, doenças, rivalidade e mais uma infinidade de assuntos. “A gente precisa colocar voz no nosso pensamento e na igualdade”, fala Carolina*. “A gente já sente culpa por ser mulher.”
Culpa que tem sido transformada em potência e aparece nos Slam, as batalhas de poesias que tomaram conta de periferias das cidades. Meninas declamam poesias umas às outras numa fala rápida e intensa. Lindo de ver e forte de sentir. As meninas da Emef receberam a visita do famoso Slam das Meninas e foi incrível. “A gente declamou as poesias que criamos e elas declamaram as delas e ali, no meio da escola toda, a gente foi as entrevistando”, recorda Luísa*. Tantas iniciativas só reforçam a importância dos coletivos e de ter as escolas como espaços acolhedores dessas falas. “Porque a gente acredita que é importante incentivar o protagonismo das meninas. Elas também têm direito e a escola é o lugar de se fortalecer”, enfatiza a diretora Eliane. “É um processo de autoconhecimento”, finaliza.
Slam Luísa* 9ª
“Mulheres são tão foda que até a pátria é mãe
Então porque elas são as mais sofridas?
Durante anos suportando a dor destas feridas
Já infectadas por religiões, preconceitos e machismos
Reprimidas, abusadas e desvalorizadas
Suportam a dor de um parto e muito papo chato
Caras desinteressantes, diversas vezes irritantes
Tratadas como máquinas, para tirarem pó de estantes
Chamam de gostosa e assoviam como se fosse um cão
Acham que são telas de celular para passarem a mão
Mas, de verdade, são telas, mas tão divinas que só Deus pode pintar
E tão complexas que poucos sabem apreciar
Durante noites de bebedeira, alterados chegam alguns maridos
No dia seguinte, a maquiagem deixa o rosto escondido
Padrões sempre são criados e criam situações horrendas
Talvez na constituição, faltem mais algumas emendas”
Créditos
Imagem principal: Divulgação
*Os nomes das garotas foram alterados