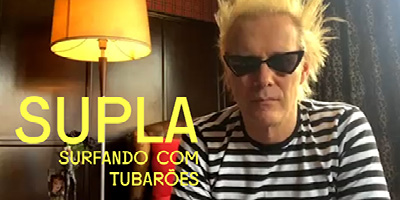Uma conversa com Adirley Queirós, diretor do festejado ”Era uma vez Brasília”, que acaba de ser exibido no Festival de Mar del Plata
“Eu vejo muito assim: o filme é como o diretor fala”, analisa um dos mais importantes cineastas do Brasil, Adirley Queirós. O diretor, que é ex-jogador de futebol das equipes Taguatinga e Ceilândia, começou a fazer a cinema aos 28 anos e sua primeira ida ao Festival de Brasília não foi como espectador, mas, sim, para apresentar uma obra própria, seu primeiro curta, Rap, o canto da Ceilândia (2004). A partir daí não parou de produzir e já em seu primeiro longa-metragem, A cidade é uma só? (2012), começou a chamar atenção também em festivais fora do Brasil, situação que se intensificou com o lançamento do festejado Branco sai, preto fica (2014).
Adirley não se classifica como um cinéfilo, mas diz que é de ver os mesmos filmes incontáveis vezes, entre eles, Blade runner. É com um brilho nos olhos que relembra da primeira vez que viu o clássico no cinema e revela que realizará um "Blade runner 3", tendo como pano de fundo, mais uma vez, Brasília, sempre ela. Fã dos conteúdos de ficção científica, não vê o pouco orçamento como obstáculo para realizar obras do gênero que tanto gosta. Hollywood e efeitos especiais para que, se a Ceilândia está logo ali? Se tudo está na esquina da sua casa. Com uma tecnologia latina, Adirley faz uma nave espacial dentro de um carro em seu último longa-metragem, Era uma vez Brasília, e se afirma como um mestre ao trabalhar a questão de ocupação e território nos filmes e discutir o cinema feito na periferia.
LEIA TAMBÉM: Por que Karim Aïnouz, um dos principais cineastas brasileiros, foi viver em Berlim
Na apresentação recente de seu último filme no Festival de Mar del Plata, o cineasta fez uma retrospectiva das suas três últimas produções pelos governos que o Brasil teve no período. Na entrevista, ele comenta que nunca saiu da Ceilândia, que chegou lá aos três anos, quando sua família se mudou para Brasília, ainda nos anos 70.
Suas obras, alucinantes e provocadoras, pulsam um turbilhão de questões sociais e políticas latentes. Com a sua fala apaixonada e acelerada, de um tom modesto, Adirley fala de seus filmes, do seu processo de realização e de sua trajetória.
Trip. Por que a escolha de ex- presidiários como personagem [no Era uma Vez Brasília]?
Adirley Queirós. É que a gente trabalha muito com a ideia do não-ator, não tem nenhum profissional. No filme, todos eles têm uma relação com o presídio ou com um familiar presidiário. O Marquim [do Tropa], por exemplo, o sobrinho é presidiário. A Andréa [Vieira], a história dela é de verdade, ela puxou cinco, seis anos de cadeia. O Franklin [Ferreira], que é quem anda no carro, também foi preso. Daqueles lá, o único que não foi preso é o ator, o Wellington de Abreu. Então, a ideia do ex- presidiário é que a gente estava tentando dialogar muito com o contexto brasileiro. Essa coisa de pensar em um lugar pós-apocalítico, pensar em um futuro onde os trabalhadores seriam presos. Qualquer pessoa que se manifestasse, qualquer um que fizesse greve, qualquer um que fizesse um movimento na rua seria preso, enquadrado na lei de terror, que foi na Dilma, né? Outra coisa que tem muita a ver com a cadeia, é que o filme nasce na minha esquina. Eu moro em Ceilândia.
Você ainda mora lá? Moro no mesmo lugar desde sempre e eu moro muito perto de todo mundo ali, então, a gente fica muito na esquina conversando, passa horas e horas, porque não tem muito o que fazer. É dançar, beber, jogar bola e conversar. Muitas das pessoas que moram na minha rua são ex- presidiários, homens e mulheres que tem passagem pela polícia. Muitas das conversas noturnas caem nessa história: “Ah, estava na cadeia, assim, assim, assado”. Então startou a ideia de que uma das chaves do filme poderia ser pensar o futuro, tudo depois daquilo que é o golpe. Então você tem uma nova configuração do Estado e pós-apocalíptica onde todo mundo está preso. De certa forma, estamos todos presos, então, eles se articulam naquele espaço ali e era quase uma ideia de gibi. Era uma vez Brasília tinha uma ideia de fazer clássicos com os quadrinhos, sabe? Mais desenho animado, divertido. A gente tem esse projeto ainda de produzir quadrinhos para essa mesma história, mas para escola pública. Mas aí com uma pegada mais jovem, de aventura.
Como é o seu processo de realização? Você trabalha com roteiro, argumento? Não tem roteiro clássico. Eles [os atores] têm o conceito de personagem, mas não têm o roteiro na mão. Eles têm que viver aquele espaço, viver aquela casa, viver aquela nave. Não há roteiro de fala. A única que tinha um texto pequeno era a Andreia [Vieira] e muito do que ela fala, eu escrevi junto com ela. Ela tem uma história, a narrativa dela própria, e eu incremento uma narrativa para ela, aquela coisa de cortar a cabeça, colocar dentro da barriga, incendiar, aquilo é texto nosso. Cada ator tem essa história na cabeça. Ah, Marquim [do Tropa] é um cara que vê monstros pelo capacete, então, onde ele olha, aparecem os monstros. No argumento inicial, ele iria para o Congresso Nacional, identificar quais eram os monstros, de outro planeta, que invadiram a terra. É quase uma brincadeira intergaláctica, em que cada um deles é focado, interiorizado no personagem que vai representar. Pelo argumento que a gente constrói, eles sabiam para que servem os aparelhos, as naves, a pulseira e a ponte. A partir daí, solta o filme, não há mais roteiro.
Como foi o seu caminho do futebol até o cinema? A minha história é um pouco fora do cinema. Joguei futebol a minha vida toda, dos 14 até os 24 anos. Eu era profissional do futebol, recebia para isso, desde muito pequeno, times da segunda, terceira divisão. Eu vivia disso, era um operário do futebol. Por dez anos eu vivi assalariado assim. Eu estudei muito pouco e parei de jogar, machuquei. Eu fiz o supletivo na época, terminei o segundo grau. Aí depois, como eu não tinha emprego, comecei a dar aulas particulares: matemática, física e química. Com um amigo meu chamado Shockito, que é o cara do Branco Sai, Preto Fica, o Cláudio Irineu. A gente montou uma salinha e dava aulas particulares. Ele parou e eu continuei. Dei aula particular por muito tempo, uns 4 ou 5 anos, de matemática, física e química.
Como era? Eu fui aprendendo didaticamente. Porque eu não sabia nada. Eu lembro a primeira vez que anunciei uma aula, uma mulher me ligou e falou: “Você ensina Trigonometria?”. Eu falei: “Eu dou aula, mas está muito cheia a minha agenda, só posso daqui a três meses”. Eu não tinha aula nenhuma. Aí eu fui, fechei aula com ela, peguei um livro de um professor e estudei três meses de trigonometria para dar essa aula, entendeu? Era um processo muito louco, um negócio meio de sobrevivência e, nesse processo de dar aulas particulares, foram cinco anos aprendendo, eu assimilei muito. Aí quando foi 2000, se eu não me engano, eu fui fazer concurso para a Secretaria de Saúde de Brasília e eu trabalhei durante 13 anos lá, no guichê de marcar consulta. Nesse período, eu passava pela Universidade de Brasília, aí eu passei em frente ao departamento de comunicação, que era muito próximo, segunda-feira às 10h da manhã, aí todo mundo lá fumando, pegando sol, curtindo e falei: “Pô, tô afim de entrar nesse caminho”. Minha motivação foi essa. Eu queria entrar em um curso que tinha aquelas pessoas, nem sabia que curso era aquele. Daí fui ver, era comunicação divido em três partes. Tinha a primeira, que era jornalismo, no meio tinha publicidade, e tinha cinema. Aí me inscrevi, eu não tinha relação nenhuma com cinema, nunca tinha pegado uma câmera, não tinha amigo de cinema e trabalhava paralelamente na Secretaria de Saúde de Brasília. Continuei estudando porque era muito difícil passar na UNB. Eu lia muito, então tinha noção de história, geografia. Mas não sabia nada de inglês, não sabia nada de línguas. Daí fui entrando, entrei atravessado na verdade. Eu tinha o perfil de fazer um curso de exatas, mas entrei para o curso de humanas, porque estava afim só de chegar lá, curtir, tomar um sol. Eu entrei sem muito objetivo, sem muito foco. Isso até três anos atrás. Quando eu terminei o Branco sai, Preto Fica, aí eu pedi para sair, porque não aguentava mais o ritmo.
A vida dupla, né? É, não aguentava. Tinha família, tenho filhos. Então estava muito puxado já.
Da onde vem as suas influências do cinema? A minha cinefilia assim não é uma clássica de cinema. Na Ceilândia é muito louco, tem uma sala de cinema só, dos anos 80. É muito absurdo, porque ela passava somente dois tipos de filme que eram muito comuns no Brasil, uma sessão de sexo e outra de karatê, que chamava sexkaratê. Durante muito tempo, a minha geração via pornô e Bruce Lee, que era muito engraçado, porque era muito natural, então não tinha o peso de ver o pornô, como se fosse um lugar escondido. Era o único lugar de cinema da cidade, único para gente ir, então a gente ia lá. Era muito massa, muito homens e mulheres assistiam lá as sessões e depois iam para o Baile Black, que é da onde é o Branco sai, preto fica. Minha cinefelia, meu mundo era esse, as coisas da luta do meu filme vêm de lá mesmo... A primeira vez que fui ao cinema que não foi nesse contexto era o cinema chamado Cine Lara, em Itaguatinga, que é uma cidade próxima de Ceilândia, que é a cidade satélite mais classe média. E lá tinha um cinema que era incrível, que era filme de massa na época. Eu assisti lá o Blade Runner quando foi lançado na sala de cinema e achei a coisa mais linda do mundo, foi a maior experiência ver numa tela grandona, com o som foda, era muito absurdo aquilo para mim, muito fora do comum, um lugar estranho, muito bonito e daí fiquei muito com aquilo na cabeça. Mad Max, Blade Runner, Inimigo meu, eu assisti lá.
Você viu o último Blade Runner? Vi.
O que você achou? Ah, achei massa assim... Porque eu sou fã de verdade do Blade Runner, assisti 30 vezes. Então quando você é muito fã de um filme, é difícil o dois ou o próximo filme bater forte na pessoa, sempre tem aquilo do primeiro. Eu gosto muito do filme, mas eu acho que ele é muito pouco violento, que o primeiro Blade Runner, para mim, é mais violento, é muito bonito, é mais filosófico que é aquela coisa do androide pensar na vida eterna. O segundo me parece muito fechadinho, achei aquela linguagem moderna de Hollywood, o roteiro muito redondo, não tem surpresa. Mas eu acho massa. Eu vou fazer o terceiro Blade Runner na verdade.
É mesmo? Como vai ser isso? Seria um esquema meio tora, câmera 16, 10 latas, à noite, com doidão, imbuído naquela história mesmo de um replicante que foge. Só que vai ser assim BR, de Brasília, 2071, porque em 2071 a Ceilândia faz 100 anos. Então é uma brincadeirinha: BR 2071. Aí embaixo: Blade Runner 3. Aí é um doidão, andando, correndo com a câmera 16, alucinado, trash, filme punk. Muita sonzeira, muita correria, muita loucura. O tempo todo meu imaginário é muito esse, ficção. E na rua também é muito assim, todo mundo tem história para contar. É uma linguagem muito rápida. Cada um conta uma história, então tem que ser muito rápida porque, se ela for lenta, o outro te atropela, as histórias saem muito cortadas. Porque sempre cai numa história absurda, como se fosse o real. “Aí saí do trabalho, então peguei o metrô, passei pela ponte, na ponte tem um doidão com o olhão arregalado, então o bicho voou assim para cima de mim”. Todo mundo conta uma que parece que caiu numa história muito surreal porque é muito assim mesmo, é droga, é bebida, é noite, trabalho... Daí para ter uma história, tem que passar por esse filtro espetacular. Isso me toca muito, porque ali eu vejo muita verdade, isso me toca muito mais que a pretensão de uma realidade. Porque está tudo ali, o cara desceu, pegou o ônibus lotado, atravessou a ponte, a polícia bateu nele. Toda a realidade de periferia está ali, naquele cara. Então é todo um recortado. Também vou muito pela literatura, leio muito ficção científica que é muito foda, né?
Como quem? Eu leio muito [Philip] K. Dick, que deu origem ao Blade Runner, com o Androides sonham com ovelhas elétricas?. O que eu acho mais massa é o Crônicas Marcianas, do Brady Burry, melhor livro do mundo. Eu leio esse livro há 10 milhões de anos. Eu compro em caixa, porque é livro de bolso, e vou distribuindo para os amigos. As histórias são muito incríveis, é invasão à Marte, a invasão dos terráqueos à Marte. É basicamente um livro muito de memória, muito melancólico. Ele fala da memória como um lugar que te aprisiona, que talvez, para você subverter a realidade, tem que estourar aquela memória. A memória é importante para te dar uma identidade, mas se você fica nela, você fica muito aprisionado, você não consegue sair, como se ela te desfocasse.
Você costuma apontar o Glauber Rocha como uma das suas referências também. É, os dois textos que ele tem, o A estética da fome e Eztetyka do sonho. Os primeiros filmes que ele fez são muito mais ancorados no arcabouço teórico que ele tinha, que é a estética da fome, a realidade, mudar o país. Mas aí, tem um momento da vida dele que ele fala "agora eu acho que a ideia é o sonho". Essa realidade não há como contar, não há como dialogar, só se dialoga pelo sonho que pode ser muito parecido com o cinema. Então, o Era uma vez Brasília tinha um pouco disso também, de pensar que a gente não quer prender o filme na ideia de esteticamente real. A gente fugia de um lugar organizado, onde tem início, meio e fim. As coisas não acontecem no filme, as sequências acabam, né, terminam, não no sentido de finalização. Elas vão embora. Flui como se fosse um sonho. Mas a referência que eu tinha maior é o Andrea Tonacci, com Bang Bang e o filme Serras da desordem, que é uma das coisas mais maravilhosas que existe. E é muito isso, essa referência de Brasil, Tonacci, [Ozualdo] Candeias, a margem, cinema marginal paulista. Esse cinema me toca muito, mais boca do lixo. Eu não sou necessariamente um cinéfilo assim não, sabe?
Não? Eu vejo muito filme, mas não sou cinéfilo. Eu gosto muito obviamente de alguns filmes. Por exemplo, a gente tinha um cine clube em Ceilândia que a gente passava cinco filmes por ano e repetia os filmes: Aguirre, Blade Runner, Serra da Desordem, Mad Max e Bang Bang. A gente via em sequência, em looping.
E, diferente de alguns desses, os seus filmes apresentam um cunho mais político, não? É, os filmes que eu faço são fábulas de periferia para tentar refletir sobre a história do país. Sobre a política do país em si. Eu sou muito movido por essa ideia política. Eu tenho uma relação histórica com o movimento de esquerda, não posso dizer que sou militante, no sentido clássico da palavra, de partidário. Nunca me filiei a nenhum partido, mas eu sempre estive nessas causas militantes. Muito mais por condição de classes, meus amigos são operários. Então desde o surgimento do PT, desde da primeira vez que o Lula se candidatou, eu estava nessas pautas todas. Mas nunca fui do PT, nunca fui de partido algum. Na verdade, eu sempre apanhei dos partidos, os meus filmes de alguma forma estão tentando contrariar essa ideia política, né? Da ideia do que seria a organização partidária. Porque a Ceilândia é muito perto de Brasília, a política está muito ali dentro, nos fatos cotidianos. Então a gente pensa muito sobre isso.
Do jeito que está hoje, você está pessimista? Muito, muito pessimista. Do jeito que está hoje... Assim, eu acho que é um retrocesso muito grande, politicamente falando. Porque o governo Lula e Dilma teve 12 anos de políticas progressistas com todas as contradições. Acho importante ressaltar as contradições que existiam, é óbvio que existiam milhões de contradições no governo Lula e Dilma. É óbvio que a gente sabe que a negociação que foi feita para que uma certa parcela da população tivesse acesso a alguns bens de consumo e a educação era problemática. Nunca houve tanto massacre, um desserviço em relação a população indígena no Brasil. Mas existiam políticas progressistas, é importante, essas pautas progressistas que atendiam obviamente a uma classe de operários, subalternos, o proletariado, vai ser dizimada. Porque existe agora uma nova ética, uma nova política do governo Temer, que é obviamente voltada para uma ideia neoliberal, absurda, em que essas pessoas vão ser limadas do processo de novo. É muito mais do que necessariamente a questão econômica. Existe um preconceito muito, muito grande, ético, da classe média. A classe média tem muito mais preconceito ético do que econômico. Porque na economia mesmo ninguém liga para isso, né?
Pois é, e ainda tem gente que acha que o mundo está chato... É... Essa geração não vai pedir permissão. Vai vir muito empoderada, muito inteligente, muito foda, com muitas informações, muito sintonizada, muito rápida. Isso não tem saída.
E como foi para furar a bolha do cinema? Eu dei muita sorte na verdade. Eu fui, entrei, comecei a fazer a Universidade de Brasília, mesmo dentro, para mim ainda era algo muito distante, não tem como eu fazer isso, não dá para viver disso. Então, na Universidade de Brasília, eu ganhei um edital. Esse filme [Rap, O Canto Da Ceilândia] deu muita sorte, entrou no festival de cinema de Brasília que era o maior festival de cinema do Brasil e ele ganhou o prêmio do público e crítica daquele ano. O primeiro filme que eu fiz, a primeira vez que eu pisei em Brasília, no festival, nunca tinha entrado no festival de Brasília, no Cine Brasília, foi com um filme meu e ganhei um festival. É muita sorte.
Não é só sorte... É muita sorte também. É estar dentro do fluxo da história do Brasil. Acho que é muito importante a geração estar dentro do fluxo da história. Quando eu fiz esse filme, eu já tinha uma reflexão muito grande daquilo que era na minha cabeça a ideia de Ceilândia, de Brasília. Tinha uma ideia muito forte de território. Estava lendo muito na época um cara chamado Milton Santos, que é um geólogo, foda do caralho. Eu já tinha um discernimento muito grande do que era a minha relação com aquele espaço, por vários motivos: eu tinha 30 anos, então também não era tão jovem, e estava num momento da vida em que eu flanava. Eu não tinha obrigação com nada, então eu andava, pegava um ônibus e ia. Só que para mim, o primeiro choque de chegar até a universidade foi absurdo. Eu só entendo a cidade como Ceilândia quando eu vou para Brasília. Porque quando você mora numa cidade tudo é muito natural. A ideia de pobre e de rico é muito relativa dentro da cidade. A ideia vem de nós. Então, não consigo ver tanta diferença do mundo em que eu estou daquele mundo que é o mundo exterior. Quando eu fui para Brasília, me assustei muito na universidade com como as pessoas se comportavam, o choque de classes. Como eles falavam, como eles se comportavam, daí eu refletia muito quase num estado de solidão, em que eu pensava assim: caralho, que mundo eu estou vivendo? Que mundo é esse? Então para mim, desde muito cedo no cinema, essa coisa do espaço, do território, daqueles corpos, daquela fala, é muito presente. De certa forma, eu já tinha essa angústia de pensar quem são os autores de cinema. Quem pode contar as histórias de cinema? Depois eu fiz um outro filme, que foi totalmente absurdo, filmado em 16mm, sem nenhum real no bolso, uma história muito alucinada. Os caras me chamaram para uma entrevista, a mulher me perguntou o que é que eu queria fazer, aí eu disse que estava adaptando a obra do Albert Camus.
LEIA TAMBÉM: Anna Muylaert é um furacão
E como foi? Que era mentira... Eu tinha lido Camus e falei que ia adaptar, isso ao vivo para a televisão. Então nisso, a conversa foi andando, foi andando. Ela pediu para eu ficar mais um bloco, eu fiquei, aí eu falei, antes dela perguntar, “nós estamos fazendo um filme do Albert Camus, nós não temos dinheiro, quem quiser ajudar, eu dei um telefone de um amigo meu. O produtor é esse aqui”. E coloquei o telefone. Quando acabou a entrevista, a gente tinha na época 25 mil levantados. Aí eu voltei para a Ceilândia, e falei "cara, agora tenho que fazer esse filme". Não existia filme. Então a gente organizou um grupo que depois deu origem ao que a gente chama de Ceicine [Coletivo de Cinema da Ceilândia] e começamos a discutir livros do Albert Camus para fazer um filme. Então tem o filme Dias de Greve. Essa coisa de romper a bolha do cinema, pensando, acho que só existe uma forma de fazer cinema: é fazer um filme que tu acredita. O único lugar do cinema, a única história que interessa, é a tua história. Eu vejo muito assim: o filme é como o diretor fala. Você vê um diretor falando e pode ir para o filme que parece muito ele falando. O filme que toca as pessoas é a tua história e não outra. É a história que tu pode falar, tu domina, que você tem vontade de contar, que você se sensibiliza politicamente falando, sei lá qual é a tua motivação maior. Se é subjetiva, se é poética, se é da literatura. Então eu acho que a única coisa que os filmes têm é a ideia uma ideia de verdade, um sentimento de verdade. Porque a gente não tem suporte para fazer uma ficção clássica. Não tem uma indústria para isso. E por que então a gente tem que ficar preso aos paradigmas da ficção clássica? A gente não tem a obrigatoriedade de contar uma história dentro do modelo clássico de documentário. Porque às vezes também é muito chato, é muito opressor. Eu dei muita sorte na verdade.
Em algum momento você sentiu preconceito ou barreira? Muito pelo contrário. Em todo lugar que eu vou, eu tenho esse enfrentamento muito grande. Eu acho muito divertido. Para mim, meu filme sempre é útil. Eu vou fazer esse filme como se fosse o último filme da minha vida. Então eu vou pensar assim, tudo que eu queria ter feito e não fiz até hoje. Eu prefiro não repetir o que eu já fiz. Então eu vou no osso, mesmo que eu erre. Erro muito, inclusive, mesmo que entre num lugar ruim. Mas entra nesse lugar que você pode compartilhar com as outras pessoas aquela aventura, uma verdade. Se eu convenço uma equipe a estar comigo e convenço o personagem a estar comigo, nós temos que ir até o fim na história prometida. O que eu acho mais problemático da história dos novos realizadores é, estou falando por mim também, é o medo de arriscar. Fico pensando, tu não tem filme ainda, não deve compromisso para ninguém, por que você não faz um filme para tacar o terror? Olha, eu acho que o mundo é esse, eu acho que a história massa é essa. Eu vou até o fim com essa história massa e ressignifcar, reinventar ela. Eu acho que isso dá bons filmes. Mas não tenho essa pretensão de... não sei se vai ter um próximo filme, é isso. Próximo filme que eu falo é nessa ideia de cinema. Porque eu estou há 10 anos no cinema, eu vivo do cinema, eu ganho dinheiro do cinema. Pouco, mas ganho. Então não posso reclamar. Eu não sei até quando vou viver de cinema, entende? Mas eu não posso ficar preso a esse compromisso, poderia estar preso a outra ideia de trabalho, ou, sei lá, virar um produtor, um assistente de produção, assistente de roteiro... É outra história, mas, nesse tipo de cinema, é assim, do jeito que a gente faz...