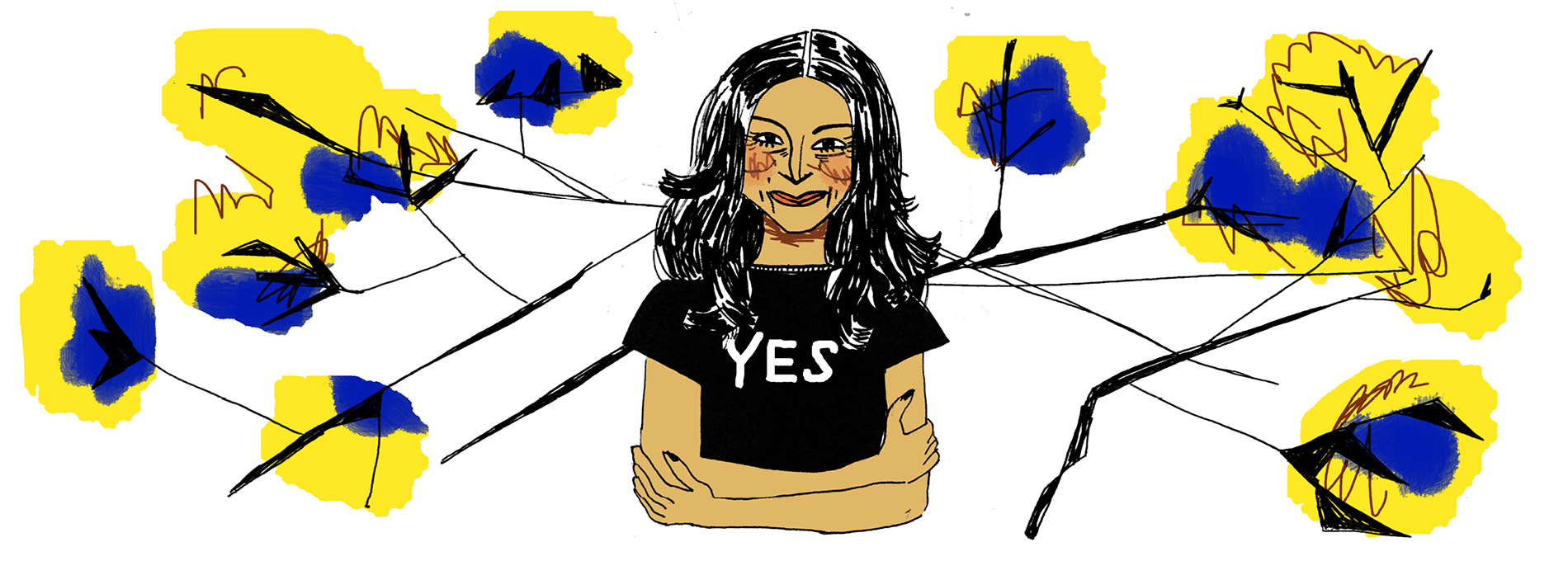A inglesa Safia Minney, uma das pioneiras do conceito de comércio justo no mundo, bate um papo sobre a nebulosa indústria da moda
"O barato que sai caro." Este popular clichê veste adequadamente a chamada indústria do fast fashion, lógica que fica nítida no documentário The True Cost, do diretor Andrew Morgan. O filme investiga as práticas inconsequentes da indústria da moda ao inundar o mercado com roupas de baixo preço e qualidade, quase descartáveis.
Alguém paga o preço para uma roupa custar muito barato — neste caso, são trabalhadores de países como Bangladesh, Paquistão e outros do sudeste asiático, pessoas exploradas que ganham menos de 1 dólar trabalhando, condições análogas à escravidão. O filme mostra ainda muitas outras histórias tão chocantes quanto, como quando mostra um vilarejo em que há uma grande incidência de crianças nascidas com deficiências mentais e físicas devido aos resíduos da produção têxtil que poluem as águas da região.
The True Cost traz como contraponto o trabalho de pessoas que estão trabalhando para mudar esta realidade, como a inglesa Safia Minney, uma das pioneiras do conceito fair trade (comércio justo) no mundo.
LEIA TAMBÉM: Os responsáveis pelos negócios pensam só no lucro, mas precisam urgentemente começar a pensar nas pessoas
Safia tem baixa estatura e fala doce, imagem que constrasta com o poder de suas ideias. Em 1991, ela fundou, no Japão, uma empresa chamada People Tree, primeira organização no mundo a implementar uma cadeia de suprimento de algodão orgânico, por exemplo. Hoje, os produtos da companhia são distribuídos em 500 pontos de venda pelo mundo, além de lojas na Inglaterra e Japão. São quase três décadas de experiência que mostram que é possível produzir e ao mesmo tempo cuidar do impacto
Abaixo, um papo em que Safia fala a respeito dessa intrincada cadeia produtiva que é o mundo da moda.
Trip. Você começou a lidar com fair trade na década de 80, aos 19 anos. Hoje, o termo é relativamente conhecido. O que chamou sua atenção naquela época?
Safia Minney. Eu trabalhava com publicações sobre comunicação e gostava do que fazia, mas um dia resolvi montar uma pequena empresa para as pessoas comprarem produtos (chocolate, vinhos, bolos) baseados no comércio justo para o Dia dos Namorados. Eu tinha visto alguns livros sobre problemas do terceiro mundo e havia dois ou três sobre comércio justo. Nunca tinha pensado sobre o relacionamento entre os produtos e as pessoas responsáveis por fazê-los. Aquilo me interessou e resolvi testar o conceito. Ao escolher comprar certos produtos, os consumidores poderiam dar voz a pessoas economicamente marginalizadas. Conseguimos articular produtores de Chiapas, no México, que vivia um conflito entre governo e zapatistas. Foi um teste sobre como usar o comércio justo para suportar direitos humanos, mesmo que o produto não fosse tão bom. Eu brincava que beber aquele café era também um ato de solidariedade.
O que aconteceu com a loja em Londres? A loja estava indo bem. Teve um Dia dos Namorados em que cheguei a fazer 150 entregas. Paralelamente, eu estava fazendo consultoria de marketing para ONGs ambientais e para publicações alternativas. Foi quando descobri que a comunicação poderia ser usada para boas causas. Já naquela época eu vi centenas de milhares de libras sendo gastas em comerciais bonitos para a televisão e pessoas ganhando prêmios de publicidade para promover produtos que criavam muito muito pouco benefício social ou eram feitos sem nenhum cuidado com o meio ambiente. Foi quando me dei conta que designers gráficos, fotógrafos e diretores de cena incrivelmente inspiradores estavam basicamente vendendo lixo. Não mudou tanto assim, mas, hoje, há mais pessoas questionando esse tipo de publicidade. Ainda li alguns livros que me provocaram mais, como Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, de Neil Postman, e Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media, de Noam Chomski. Decidi, então, que não queria fazer parte dessa indústria de comunicação.
Como você foi parar no Japão? Meu marido na época recebeu uma proposta para o Japão. Pensei que seria muito interessante trabalhar com direitos humanos e meio ambiente sob uma perspectiva japonesa. Ao chegar lá, comecei a aprender japonês e fui trabalhar como vendedora em uma loja da rede The Body Shop, uma das pioneiras em banir testes de animais em cosméticos no mundo, hoje parte do grupo brasileiro Natura. Lá, percebi que os consumidores japoneses estavam querendo saber mais sobre os impactos ambientais e sociais dos produtos, vi que havia uma oportunidade e comecei a Global Village — que depois se transformou na People Tree — na sala do meu apartamento, com a ajuda de dois voluntários japoneses e meu ex-marido. Comecei a trazer produtos de comércio justo de outros lugares do mundo e logo ficou claro que os produtos não tinham o nível de design e qualidade com que os japoneses estavam acostumados. Os clientes também queriam saber sobre a cadeia de produção dos produtos, onde era feito e se beneficiava os produtores locais. Foi quando comecei a trabalhar cadeias de suprimento de algodão orgânico em lugares como Bangladesh, Índia e Zimbábue. Em seis anos, construí cadeias de comércio justo em oito países.
O que mudou de lá para cá? O mercado evoluiu para um comércio mais justo? Acho que o movimento de comércio justo fez bastante coisa de lá para cá. Uma das mais importantes foi a Ethical Trade Initiative no Reino Unido, que provocou a criação do Modern Slavery Act, em 2015, incluindo as cadeias de suprimentos no debate sobre escravidão moderna. Os negócios precisam de regulação porque é impossível competir num campo desigual. Agora, todas as empresas britânicas que faturam a partir de 38 milhões de libras precisam dizer o que estão fazendo para erradicar a escravidão dentro de sua cadeia de fornecimento. Apesar disso, ninguém está fazendo o trabalho de vigilância sobre o que as empresas estão fazendo em relação a isso. Os consumidores precisam entender as práticas das empresas para suas decisões de compra.
As grandes empresas da indústria da moda que vendem roupas baratas estão mudando de alguma maneira? Acho que o nível de consciência está muito maior, porém, temos um grande crescimento populacional e muito gente na China e na Índia, por exemplo, ávida por consumir. Nós teremos que educar estes consumidores. Acho que perdemos uma oportunidade nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lançado pela ONU. Deveríamos ter mais um objetivo sobre mídia e comunicação para a sustentabilidade.
Seria suficiente? Acredito que a maioria das pessoas pensa que, se fosse realmente um problema, o governo já teria feito algo. Também acho que algumas pessoas também confiam nas corporações. Elas pensam que, se fosse algo realmente muito ruim, por que as empresas fariam isso? Apesar de os governos terem assinado a Declaração de Direitos Humanos e empresas terem se comprometido em respeitar leis ambientais nos países em que atuam, não fazemos nada para garantir que respondam pelos atos. O governo também não faz nada para isso. Então, há muita coisa em jogo, assim como a ignorância do consumidor. Esperar que os consumidores em geral entendam tudo isso é complicado. Em vez de cobrar das pessoas, prefiro pensar sobre quanto a classe média e os profissionais melhores capacitados são cúmplices dessa situação. Essas pessoas ficam aferradas ao status quo, que está conectado à injustiças sociais e à destruição de recursos naturais.
Por que isso acontece? Falta de conhecimento. Na minha experiência com a People Tree, trabalhei com muitos compradores de moda que são praticamente ignorantes sobre o significado de uma cadeia de moda ética. E, quando têm consciência, ainda existe uma estrutura corporativa que os fazem sentir sós carregando a bandeira de sustentabilidade ou melhores práticas. Por exemplo, ao se reportarem diretamente para um profissional de marketing, que se reporta para um presidente cujas métricas são apenas lucros, com quase nenhuma preocupação social ou ambiental. Mas acredito que isso esteja mudando porque a sociedade está demandando e as empresas estão assinando pactos se comprometendo em melhorar as próprias práticas. Penso que agora os líderes estão começando a se preocupar com questões como escravidão na cadeia de fornecedores, principalmente porque os conselhos das empresas também estão querendo saber o que está sendo feito para melhorar a situação. CEOs estão visitando fornecedores, porque sabem que existe um risco e ninguém quer aparecer mal na foto.
O que é preciso fazer para ajudar na transformação dos líderes das empresas? Acredito muito que tenha a ver com confiar na intuição, mas acredito que as empresas ainda não tenham os benefícios que precisam para fazer a transformação. Além de fazer o dia-a-dia melhor que os concorrentes, os inovadores ainda precisam pagar o custo de fazer diferente. Precisamos que o governo legisle e que as empresas trabalhem de maneira colaborativa com a sociedade para realmente transformar o mercado. Por exemplo, quando estava entrevistando para o livro Slave to Fashion, vi muitas pessoas vítimas de tráfico humano e também trabalho infantil. Pessoas que foram levadas a esta situação por alguém do seu próprio vilarejo. Uma mãe que precisava do dinheiro para salvar o marido com uma cirurgia. E a pessoa responsável pelo tráfico estava construindo uma casa gigante. A polícia sabia sobre esta situação. Naquele vilarejo, sem exagero, dúzias de jovens mulheres passaram foram traficadas. E foi como aquela pessoas construiu sua fortuna. A corrupção entranhada em cada passo do caminho. A pergunta que fica: como mesmo uma corporação pode resolver este problema de diversas camadas? É extremamente complicado.
Como sair dessa? Existe muito jornalismo investigativo sendo feito sobre isso. Se as empresas realmente se preocupam com isso, os próprios trabalhadores podem ajudar dar visibilidade para os problemas. A maioria deles tem acesso a smartphones, alguns custando na casa dos 30 dólares. Eles podem reportar sobre crianças nos ambientes de trabalho, podem tirar fotos sobre os locais de trabalho, sobre seus holerites, podem documentar o horário que saíram das fábricas, mostrar rachaduras nas paredes, toaletes indignos, falta de água etc. Existem oportunidades de melhorar. Há muito que pode ser feito. O problema está exposto graças ao movimento por comércio justo. Então, acho que já não há desculpas para as multinacionais não serem bem-sucedidas em ampliar estas práticas.
Você se arrepende de algo? Sinto muito orgulho, mas tudo veio com um grande custo. Eu não recebi salário durante 10 anos. Nunca tiramos um dividendo da empresa, mesmo trabalhando de 70 a 80 horas por semana. Houve momentos em que me senti extremamente vulnerável. Quando, por exemplo, recebi ameaças de lobistas pró-caça de baleia no Japão quando nos posicionamos contra no início da década de 90. Chegaram a colocar carne de golfinho na minha caixa postal. Tem sido difícil para empreendedores sociais no mundo da moda, especialmente porque os preços de roupa estão em deflação comparado há 20 anos. Neste cenário, construir um modelo, um mercado, cadeias de suprimento e ao mesmo tempo investir no crescimento de uma marca não foi fácil. Exige muita energia de todo mundo ao redor, principalmente da família. Foi muito importante ter alinhamento de valores com meu ex-marido e mesmo as crianças participavam de tudo, crescendo com uma série de produtores entrando e saindo de casa. Em geral, me sinto com muita sorte. Como orgânicos toda manhã. Sou vegetariana faz um bom tempo e assim consigo manter meu nível energético alto. É importante manter a saúde para enfrentar todos os desafios.
Créditos
Imagem principal: Ilustração Vitoria Bas
Rodrigo Cunha é autor deste texto, o primeiro de uma série feita a partir de entrevistas que realizou para seu projeto autoral Humanos de negócios, livro que lançará em 2019. www.humanosdenegocios.com.br Ilustração Vitoria Bas