Fudida com brilho nos olhos
"Não se chega a outro mundo sem atravessar desertos. Dois mil e vinte foi deserto. Dois mil e vinte um é caminhada, é deslocamento", escreve Milly Lacombe
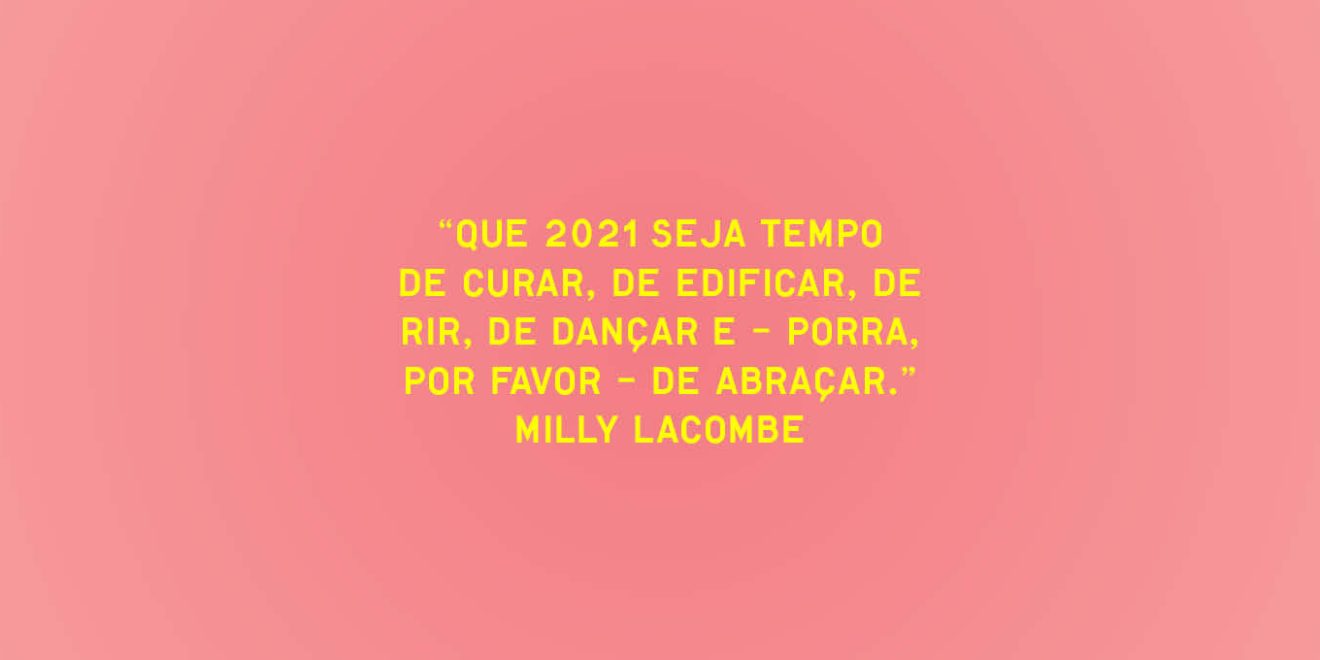
Desde março só saio de casa por motivos profissionais ou de urgência. Não fui a restaurantes (fui três vezes, não vou mentir), não fui a nenhuma festa (mas eu raramente vou a festas), não fui passear nem comprar em shoppings (de fato não fui nenhuma vez, mas eu só fazia isso em anos bissextos então não posso usar o não feito pra me valorizar). Se saí de casa, saí de carro porque eu me-re-ci. A realidade é que faz 50 anos que, mesmo sem ter consciência, me preparo para uma pandemia (eu sabia que o dia dos introvertidos chegaria, só não sabia que seria também inundado de sofrimento, dor e tristeza). Ficar quieta no meu canto é minha atividade predileta desde que me entendo por sujeito vivente e querente. Uma dessas vezes em que saí de casa aconteceu nos últimos dias dezembro para ir a nutricionista que me acompanha há alguns anos. Mezzo nutri, mezzo bruxa – como deve ser – ela precisou de menos de duas horas para fazer um catadão que o efeito desse ano bizarro teve no meu corpo: quatro quilos a mais, duas vértebras fora do lugar, um joelho deslocado, nuca travada, costas prestes a me deixar na mão e um tremendo brilho nos olhos. Ela, que faz um trabalho analisando a íris, comparou as imagens da minha íris há dois anos com as de hoje. De fato, tivemos uma incrível melhora. Meus olhos são puro brilho, pura exaltação, pura paixão. Meus olhos, ao contrário de meu corpo, ignoram a pandemia, ignoram o fascismo que se abateu sobre o Brasil, ignoram o que diz aquele que comanda o país, ignoram as políticas genocidas do ministro da economia, ignoram a revolta e a indignação que me consomem todos os minutos de todos os dias. Em resumo: estou fudida, mas com brilho nos olhos.
Buscando explicação para a aparente falta de sincronia entre meus olhos e meu corpo a única que encontrei é que, sendo os olhos a janela da alma, eles vêem mais coisas do que posso sentir, intuir ou pensar. Eles antecipam o presente com a memória do futuro; acessam um lugar em mim onde existe esperança e confiança, onde a raiva foi organizada – como sugeriu Audre Lorde. Um território que, naturalmente, indica ao corpo que a hora é de se inspirar nas mulheres argentinas que no dia 29 de dezembro de um ano bizarro conseguiram aprovar a lei que torna o aborto gratuito, legal e seguro no país. Que um ano tão devastador termine com o improvável vento de justiça e de liberdade que sopra desde Buenos Aires precisa ser investido de significado.
Vou tatuar 2020 em minhas vísceras. Um ciclo como esse não pode ser esquecido porque ele revelou coisas escondidas e, como a descoberta de uma traição que primeiro arrasa e depois faz a gente se reinventar, deixa possibilidades.
Leia também: Esse vírus não é sobre você
Foi o ano em que entendi que o único tipo de saúde que existe é a pública. Não existe outro tipo de saúde porque meu bem-estar depende do seu, mesmo que você esteja em Wuhan. Não existe saúde individual. Do mesmo jeito não existe liberdade individual: não é possível alcançar a emancipação a menos que todos e todas finquemos os dois pés nessa terra prometida chamada Liberdade. Ninguém vai se salvar sozinho, e 2020 deixou isso muito claro.
O ano em que aprendi com o professor Luiz Antonio Simas que o Brasil institucional é um projeto de ódio que vem dando muito certo, e que o Brasil verdadeiro opera nas frestas: nas rezadeiras do Recôncavo, nos surdos de terceira da bateria da Mocidade, nos terreiros onde se encanta Zé Pilintra, na pedra que Exu atirou hoje para matar o pássaro ontem, nos batuque dos tambores que fazem Oxossi se estender pela Marquês de Sapucaí através da bateria da Portela, no samba-enredo da Mangueira de 2019 (“Brasil, meu nego deixa eu te contar a história que a história não conta/O avesso do mesmo lugar/Na luta a gente se encontrana/Brasil, meu dengo a Mangueira chegou/Com versos que o livro apagou/desde 1500/Tem mais invasão que descobrimento/Tem sangue retinto pisado/Atrás de heroi emoldurado”), da terrerização de todos os espaços dessa nação, na insistência corpos encantados e erotizados. Ano em que aprendi que existir é insistir.
Aprendi também que não estamos em Guerra contra um vírus porque essa seria apenas mais uma guerra idiotizada, como a fictícia guerra às drogas, ainda que a mídia institucional queira que a narrativa seja essa. Não existe guerra contra coisas, só contra pessoas. Um vírus sempre estará, como todos nós, na batalha para sobreviver, indo de um corpo a outro na esperança de seguir seu destino. Se o problema fosse o vírus a solução certamente seria a vacina. E embora eu torça muito para que a vacina chegue e chegue logo, acredito que nossos problemas estão muito além da linha do horizonte que foi revelada pelo Corona. O vírus é um dos efeitos colaterais da vida que estamos levando, usurpando esse planeta, explorando uns aos outros, transformando tudo em mercadoria. Se queremos guerra, guerra de verdade, o inimigo é outro.
Mas será que precisamos sempre nos investir desses valores masculinizados, como os da guerra, para seguir? Será que a melhor imagem não seria a do jogo, como pede Simas? A vida é um jogo de perde e ganha, de morte e renascimento, de sucessos e fracassos. E de viradas improváveis. A vida é capoeira, e capoeira é também a primeira vegetação que cresce depois que a original foi derrubada. Capoeria é a terra se curando e renascendo. E o conhecimento de que não se joga sozinho, de que precisamos uns dos outros e da roda. Precisamos da música e do balanço de nossas cinturas, as mesmas tão necessárias para que a gente efetue um drible completo ou até um soco bem dado em nariz de fascista. A mesma que faz a gente dançar a vida. É na cintura que as maiores transgressões começam.
E estamos necessitadas e necessitados de transgressões porque uma vez em terra arrasada precisamos criar uma outra gramática que nos permita respirar.
“Construir é coletivo e 2020 me mostrou que é também ancestral. A gente pega o que nos foi deixado e com isso ergue novos edifícios”
Milly Lacombe
Destruir é a coisa mais fácil que existe e qualquer cretino de plantão a quem é dado poder destrói com destreza e rapidez. Já construir exige paciência e colaboração. Construir é coletivo e 2020 me mostrou que é também ancestral. A gente pega o que nos foi deixado e com isso ergue novos edifícios para serem ocupados pelos que ainda chegarão. Não estamos apenas ligados uns aos outros aqui e agora, seguimos ligados aos que já foram e aos que virão. Outro dia li que as pessoas não morrem, elas se ancestralizam, e essa sabedoria que nos foi censurada precisa ser apreendida antes que seja tarde demais.
Dois mil e vinte revelou a urgência para que a gente descolonize nossas mentes e aprenda enfim nossa história. Não somos descendentes apenas dos que invadiram o Brasil, nem dos que assassinaram todos os indígenas. Somos também as entidades que, assassinadas, renasceram nos corpos de seus inimigos. Somos a crueldade dos senhores de engenho mas também a potência dos povos escravizados que resistiram para re-existir. A história não é a que contaram pra gente. O que nos foi ensinado é a narrativa imperialista, e narrativa, uma vez eu li, é como uma roupa larga que não se ajusta à verdade do corpo. O corpo é a história real e brutal; a narrativa é o contorno que não revela o que é fundamental. É a história dos derrotados que agora se levantam para recuperar o que sempre foi deles. Não sou meu corpo regulado pelo estado; sou meu corpo terreirizado, meu corpo encantado, meu corpo erotizado.
Pessoas que só fazem odiar não podem querer nos dizer como amar. Dois mil e vinte deixa um rastro. De dor, de perdas, de tristeza, de desespero. Mas também de esperança porque onde existe medo existe esperança. Estamos invadidas por melancolia e exaustão, subprodutos de um sistema que transforma tudo em mercadoria e reza que quem se esforça alcança o sucesso. Já sabemos que não é assim, mas quando tudo é trabalhado na chave do privado e do indivíduo, acabamos separados uns dos outros, incapazes de perceber que aquilo que parece um fracasso muito pessoal é uma questão social que requer solução coletiva. Não existem indivíduos porque não somos indivisíveis. Somos, ao contrário, atravessados por sombras, dúvidas e arrependimentos. Por culpas e receios. Por sofrimento e vulnerabilidade. Só podemos aceitar e superar essa realidade se estivermos juntos e juntas.
Leia também: todas as colunas de Milly Lacombe
Qualquer coisa diferente disso é o que vai nos matar. Dois mil e vinte pediu silêncio. A Terra falou, implorou, ajoelhou. Recebemos um ultimato, fomos colocados na encruzilhada. E, como ensinam as culturas afro-ameríndias, encruzilhada é vida, é chance, é renascimento, é encontro. Sozinhos não sairemos disso. É hora do jogo coletivo, do tiki-taka de nossas vidas. Tudo o que vai acontecer já está acontecendo. É agora. É hoje. É nesse instante.
Depois de 2020, nada jamais será como antes. Durante um bom tempo teremos que conviver com as máscaras, com um certo isolamento, com a ameaça que o corpo do outro pode representar. Existiremos dentro dessa realidade, e ela pode nos resgatar. Porque se o outro estiver são então eu estarei sã. O outro sou eu e assim que entendermos isso poderemos tirar as máscaras. Chega de corpos negros cravados de bala, de corpos de mulheres assassinados por seus maridos e namorados, de corpos trans mutilados por aqueles que não assumem seus desejos. Chega de tanta exploração, de tanta subordinação, de tanta uberização. Não aceitaremos mais esse tipo de existência nem de sociedade. O barulho que estamos escutando é o dos que até hoje estiveram no poder e já perceberam que tudo vai desmoronar. Eles esperneiam, fazem escândalos, apontam suas armas, derramam seu ódio. É o que resta a fracos como eles. Estamos atentos. Seguiremos caminhando na construção desse mundo para que nossos filhos, sobrinhos e netos possam ter uma vida mais decente e socialmente justa. Só que a gente não chega a um outro mundo sem atravessar desertos. Dois mil e vinte foi deserto. Dois mil e vinte um é caminhada, é deslocamento, é honrar quem foi expulso do jogo antes da hora e, por fim, celebrar.
Vamos terminar com algumas das mais belas palavras já escritas: “Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou; Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar; Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar; Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se”.
Que 2021 seja tempo de curar, de edificar, de rir, de dançar e – porra, por favor – de abraçar.
LEIA TAMBÉM
MAIS LIDAS
-
Tpm
Morre o inventor do biquíni de lacinhos
-
Tpm
DESPIDA: quando tiraram minha roupa sem consentimento em imagens geradas por inteligência artificial
-
Tpm
15 famosos nus nos 15 anos da Tpm
-
Tpm
Gilda Midani
-
Tpm
Assumidos, pelados e livres
-
Tpm
Quadrinhos eróticos feitos por mulheres
-
Tpm
Marcello Melo Jr.






