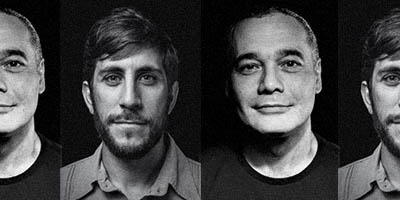Por que o turrão futebol americano virou o novo xodó entre elas
No final de agosto, o novato Brasília Pilots conseguiu o que parecia impossível: debaixo de um sol de 31 graus, derrotou o atual número 1 do campeonato brasileiro feminino de futebol americano, o Sinop Coyotes, do Mato Grosso, por 28 a 13. Vencido ponto a ponto, o jogo foi marcado pela pancadaria. Duas jogadoras tiveram que sair do campo direto para o hospital. Jú Gaúcha, do Pilots, fraturou a perna e está em recuperação; Paula Tais, do Coyotes, rompeu os ligamentos do joelho. "Foi um jogo duro", lembra Lu Maia, atleta do Pilots.
As "Pistolas" brasilienses formam um batalhão de 40 jogadoras entre 18 e 30 anos e são consideradas a surpresa do campeonato: com apenas um ano de time, fizeram sua estreia na competição com duas vitórias consecutivas. (No jogo anterior, depois de subir num ônibus e atravessar 1.300 quilômetros rumo ao Paraná, a equipe derrubou o Curitiba Silverhawks por 22 a 6.)
Desta vez, o adversário do Pilots é o Big Riders, pioneiro carioca em que muitas das atletas jogam juntas há quase uma década. E a partida é decisiva dos playoffs: quem ganhar garante o lugar na grande final.
O sol está forte e venta muito no Rorizão, estádio de futebol de Brasília. A apenas 1 hora do início do jogo, a produção se apressa para improvisar o gramado para uma partida de futebol americano: duas pessoas pintam as jardas com tinta branca; por cima do gol, traves são montadas em Y.
Enquanto isso, no vestiário empoeirado, o time do Brasília Pilots começa a vestir sua armadura. Calça, chuteiras, luvas, ombreiras, esparadrapos, protetor bucal… Além de top e protetor de seios. Os equipamentos chegam a pesar sete quilos. Os cabelos longos se escondem dentro dos capacetes, os curtos ganham bandanas. O time é o único da capital federal na categoria feminina do Full Pad, modalidade com todos os equipamentos obrigatórios.
Na véspera do jogo, Kika Carvalho, capitã e presidenta do Pilots, não conseguiu comer nem dormir. Durante a semana toda teve insônia e ansiedade. O resultado é muito cansaço. "Treinamos desde a criação do time para este momento", diz. Além da pressão de um jogo mata-mata, ela jogaria em uma nova posição. Estaria no lugar de Jú Gaúcha, aquela da perna fraturada, considerada o pilar do ataque do time.
Joga que nem mulher
No futebol americano, cada equipe tem onze atletas que se movimentam em campo. O objetivo é conquistar o território do adversário. Nas extremidades da área ficam as endzones. Quem chegar mais vezes à endzone oposta ganha mais pontos. Em suma, enquanto o ataque quer derrubar o adversário que está com a bola, a defesa faz o bloqueio para que o jogador consiga avançar o máximo de jardas possível.
Principal esporte dos Estados Unidos, a modalidade ainda é pouco conhecido no Brasil. Em 2009, existiam apenas oito equipes, e a piada era que os brasileiros se referiam ao esporte como “aquele do marido da Gisele Bündchen”. Sete anos e 31 times depois, a Superliga Nacional foi lançada em 17 estados.
A ala feminina foi precursora tanto quantos os homens. Em 2004, já havia mulheres jogando com a bola oval nas areias de uma praia de Saquarema (RJ), na chamada categoria Flag Football (sem contato físico e jogado em qualquer terreno, tal qual uma pelada de várzea), que é a principal porta de entrada do esporte por aqui. Enquanto no Rio a moda é ir à praia, em Brasília, as partidas acontecem nos amplos gramados públicos da cidade.
LEIA TAMBÉM: Mulheres que amam esporte retomam seu lugar de destaque
Aos 31 anos, a servidora pública Ingrid Silva faz parte do Brasília Selvagens, um time de Flag Football. Ela se surpreende com o amadurecimento do esporte, diz que, agora, além das mulheres terem em comum a paixão pela NFL (a liga norte-americana), todas querem ir para a ação. "O futuro é promissor. Chegaram muitas meninas novas para formar equipes completas, estão surgindo novos times na base, e tem muito esforço por trás disso."
Como Flag Football, o futebol americano ainda é considerado amador no Brasil. Para dar o próximo passo e entrar na categoria Full Pad, a maior dificuldade é conseguir o equipamento – o investimento inicial é de R$ 1.500 por pessoa.
Existem cerca de 10 times femininos na categoria Full Pad em atividade no país. A maioria possui um patrocínio precário e arca com suas próprias despesas de viagem. Mesmo os mais antigos buscam apoio. O Big Riders, do Rio, acaba de perder o patrocínio do clube Vasco. Para conseguir viajar para outras cidades com 40 atletas, as jogadoras fazem vaquinha e rifam camisetas.
Por causa do custo, ainda são poucos os que fazem parte do Campeonato Brasileiro, o único de âmbito nacional. Criada em 2014, a competição conta com apenas seis equipes. Mas a tendência é de crescimento. Só em 2017, três times fizeram sua estreia – além do Pilots, o Silverhawks, de Curitiba, e o Spartans Football, de São Paulo. E a luta comum por fazer o esporte crescer marca uma relação de amizade entre as equipes, o clima é de cooperação – a tal da sororidade que não deixa desanimar.
Marrentas, táticas e empoderadas
Hematomas e machucados fazem parte da vida das atletas. Por ser uma modalidade de contato, o esporte exige vontade de partir para cima e não ter medo. "A gente não perde nossa identidade feminina por sermos fortes. Pelo contrário. Sei que para algumas meninas trabalhar essa energia é muito libertador", conta Kika Carvalho, a capitã do Pilots.
É o caso de Larissa Arthemis, de 29 anos. No início do ano, ela enfrentava uma forte depressão. Estava com 125 quilos e não saía de casa. Sua baixa autoestima a fez perder o gás pela vida. Um dia, ela foi convidada por uma amiga a treinar com as meninas do Pilots. No último jogo, Larissa entrou em campo pela primeira vez vestindo a camisa de atleta. "Só consegui sentir orgulho de mim. Lembrei de cada dor e cada superação pessoal. Vou levar isso dentro de mim. O futebol mudou minha vida. Todo dia é uma vitória", diz.
Lúcia Montalvão, do Big Riders, também começou a jogar este ano. Ela é a única mulher de São Gonçalo (RJ) a praticar o esporte. "Estou amando. Tenho a sensação de fazer a diferença." Para sua colega de time veterana Carolina Rego, o esporte também se destaca pela diversidade: "Todo mundo pode jogar. Basta correr. Não importa se você é alta, magra, gorda ou musculosa, você será aceita. No Riders temos meninas que pesam 50 quilos e outras de 130 quilos."
LEIA TAMBÉM: Quanto custa o gol de uma mulher?
O futebol americano é um verdadeiro jogo de xadrez. Carolina treina há dez anos. O maior preconceito que sentiu foi de escutar que iria se machucar. Para ela, a estratégia é o grande segredo do jogo. "A sociedade pensa que é um jogo bruto pra mulheres, mas não é verdade. Existem regras muito claras. Amo estudar a teoria de como conquistar o território adversário. Quem não conhece está perdendo um esporte maravilhoso. Procure uma equipe em sua cidade e vá jogar."
Raphael Negreiros, técnico do Brasília Pilots, também treina a conterrânea equipe masculina do Tubarões do Cerrado. Para ele, ainda existe o preconceito de gênero. “Eu escuto vários caras falarem que mulher não pode jogar futebol americano. Acho que o homem tem a cultura do esporte já na infância. O que eu gostaria era de ver meninas jogando desde cedo."
Segue o jogo
De volta à disputa entre brasilienses e cariocas. Enquanto as Pistolas entram em ação, na arquibancada, parentes vendem pipocas para alavancar recursos e amigas somam na torcida. A estudante Andressa Menezes, 22, preparou placas com o mote “Go Pilots!”. Para ela, o time é uma inspiração. "Acho que ele tem que decolar. É incrível a mulher jogar futebol americano. Elas quebram o estereótipo de que só homem tem força. É meu esporte favorito."
Em campo, uma jogadora do Big Riders corre, ziguezagueia e entra na endzone adversária com a bola na mão. É o primeiro touchdown. Na sequência, o time carioca não deixa as rivais ganharem mais território. Está tudo blindado. "Parece que o Pilots está um pouco confuso e perdido", avalia o narrador esportivo ao vivo na arena. No banco de reservas, a jogadora brasiliense Paula Chiarotti observa impaciente. "O que está pegando mais é que as meninas do Big Riders são muito experientes. A gente também está perdendo no psicológico. Estamos nervosas."
No meio do jogo, Kika pisa de lado, treme muito e cambaleia. O brigadista dá o recado: ela não pode continuar na partida. E a maré segue remando para o lado das cariocas, num jogo limpo e muito técnico.
O resultado final é uma goleada: 40 pontos a zero. E agora o Big Riders segue para a final, que acontece em dezembro. Vai disputar o caneco contra as vencedoras do jogo entre Fluminense Cariocas e Coyotes.
Na comemoração, as jogadoras cariocas dançam até ao chão com a música "Cheguei" da funkeira Ludmilla. Fora do gramado, Kika não segura as lágrimas. "Eu sou apaixonada por esse esporte. Por mais que doa, eu amo muito isso. Se a gente chegou até aqui, podemos ir mais longe."