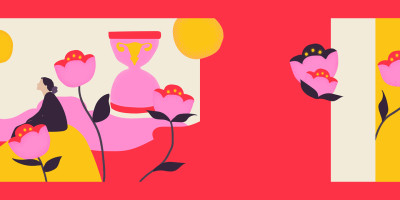Nos últimos 10 anos, a atriz lida com os altos e baixos da doença e divide um relato sobre abandono, autocuidado e cura
Nascida e criada no bairro Freitas Júnior, na periferia de Taboão da Serra, em São Paulo, Naruna Costa (40) se fez uma artista multitalentosa: mais conhecida por seu trabalho de atriz – que inclui papéis marcantes como a Cristina de “Irmandade”, a Lila de “Todas as Flores” ou a Anabela de “Rota 66” – ela também escreve, canta, compõe e sempre quis mais da vida. Mas tinha uma endometriose no meio do caminho. No meio do caminho, tinha uma endometriose.
Enquanto vivia um luto profundo pela perda do marido – o diretor Mário Pazini Jr., vítima de câncer em 2014 –, a atriz descobriu que precisaria passar por uma cirurgia para fazer a retirada de focos de endometriose em um ovário. O procedimento não saiu como planejado e, durante quase 10 anos, Naruna precisou se reinventar e intensificar sua relação com o próprio corpo e a saúde para seguir adiante.
No Dia Nacional de Luta contra a Endometriose, a artista divide com a Tpm sua difícil trajetória com a condição que acomete uma em cada 10 mulheres no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que 180 milhões de mulheres lidam com o problema no mundo – destas, sete milhões são brasileiras. Não é pouca gente, mas Naruna não está sozinha. E se este for o seu caso, você também não.
Leia, a seguir, o relato da atriz.
“A minha história com a endometriose começa antes mesmo de eu saber que a doença existia e me identificar com ela, porque minha mãe teve endometriose e não foi diagnosticada. Quando aconteceu comigo, a gente entendeu o que tinha acontecido com ela no passado.
Eu, que sou a terceira filha, lembro de crescer vendo minha mãe com dores dilacerantes, já com quatro filhos, depois dos 40. Ela gritava e dizia que ia morrer, ela desmaiava. Ninguém entendia o que era – a gente, que é de periferia e que nunca teve convênio médico, não tinha esse acesso à prevenção de doenças.
Em um certo dia, minha mãe ficou muito mal, e meu pai precisou chamar uma ambulância. Ela passou alguns dias no hospital e voltou depois de retirar trompas, útero e ovários sem grandes explicações. Os médicos disseram que ela tinha um caroço do tamanho de uma semente de abacate no útero.
Hoje em dia, tenho contado com o SUS (Sistema Único de Saúde) de uma forma bem mais interessante, mas meu passado com a endometriose em um hospital público foi também bastante traumático.
Minha menstruação foi sempre longa, com muito sangue. Aos 20 anos de idade, comecei a me relacionar com o Marinho, que foi o cara com quem eu me casei e vivi com ele até os meus 31, quando ele faleceu. No ano em que ele descobriu o câncer, a minha dor da endometriose começou a aparecer. Eu sentia cólicas e dores na região do umbigo – o que me fez achar que eu podia estar com alguma hérnia –, mas foi um período em que eu estava cuidando do meu marido, então acabei deixando o cuidado com o meu corpo para depois.
A gente era um casal muito apaixonado, muito vibrante, então achei até que as minhas dores pudessem ser um sinal de estresse por tudo o que estava acontecendo. Mas em 2014, quando ele morreu, tive um ano de luto profundo – e como nunca tive acesso a terapia, plano de saúde ou cuidados holísticos, me desapeguei de qualquer autocuidado. Ali, minha relação com o corpo era de abandono, porque aquele sofrimento era muito intenso.
Em 2015, me dei conta de que estava realmente doente, porque eu sentia um volume no meu útero, como se estivesse grávida – e não estava. Na menstruação, as dores eram intensas, eu sentia o útero inchado e também me via inchada todos os meses. Não conseguia levantar, não dava para trabalhar. Quando finalmente fiz exames mais detalhados, descobri a endometriose, essa doença que funciona de formas diferentes no corpo de cada mulher.
Meu tratamento foi feito pelo SUS – do diagnóstico à cirurgia. Fiz um acompanhamento e alguns exames para programar o procedimento, mas entendi, anos depois, que os exames não eram os ideais para esse tipo de quadro. Faltava estrutura no hospital, e eu tinha zero informação sobre o que era a doença. Tudo o que entendi na ocasião foi que meu ovário direito tinha focos de endometriose. Assim, o plano era retirar esses focos usando a laparoscopia [técnica minimamente invasiva, com a inserção de uma uma câmera por meio de pequenos furos na barriga, que processa as imagens de todo o abdômen].
Entre a descoberta da doença e a cirurgia em si, quase um ano se passou. Fui operada no final de 2016, quando já estava namorando o Washington Gabriel, companheiro com quem estou até hoje.
Eu vinha de um luto pesado, sentia minha sexualidade interditada por dores físicas, e tentava me relacionar novamente… Apesar desse lugar de conforto e de amparo que o amor traz, tudo isso também estressa o corpo. E esse cenário é muito simbólico, porque depois da cirurgia fiquei internada num hospital em que muitas mulheres passaram por procedimentos semelhantes – retirada de mioma, de endometriose – e meu namorado era a única figura masculina que aparecia no hospital e que dormia lá.
As mulheres são muito abandonadas pelos parceiros nesse tipo de situação, é muita solidão. As presenças por ali eram sempre femininas: filhas, irmãs, mães ou amigas acompanhavam as mulheres internadas. Algumas pacientes ficavam sozinhas, mesmo. Elas comentavam comigo: “Nossa, seu namorado vem! Ele fica aqui com você, que bonito”. Isso mexeu muito comigo também.
Quando você vê um homem internado, é muito raro que ele esteja desacompanhado, especialmente das mulheres. Sejam suas companheiras, suas filhas, mulheres da família. É o oposto do que costuma acontecer com mulheres adoecidas.
Quando acordei dessa cirugia, eu urrava de dor. Além do comprometimento do ovário, os médicos descobriram muitos focos na parede abdominal, e havia também um nódulo no intestino que só poderia ser removido se um gastroenterologista estivesse na equipe – o que não era o caso, porque os exames não detectaram essa necessidade.
Entrei no centro cirúrgico achando que faria uns furinhos na barriga para tirar pequenos focos de endometriose do ovário; saí de lá com um corte grande, semelhante ao de cesariana – mas bem maior – e sem um ovário, sem uma trompa e sem a parte do nódulo do intestino que a equipe conseguiu extrair sem a presença do especialista.
Fui medicada com morfina por três vezes, porque a dor era insuportável. Essa parte do processo foi traumática porque passei a ser tratada com hormônios fortíssimos, que me colocavam em menopausa. A intenção dos médicos era conter o avanço dos focos de endometriose que ficaram, mas essa menopausa artificial foi mantida por um ano e meio – e meu emocional ficou muito abalado.
Enquanto estive menopausada, lidei com as mesmas questões que muitas mulheres enfrentam quando atravessam essa fase da vida. No meu caso, via desconexão e rejeição com tudo e com todos. É muito louca a influência dos hormônios na mente, porque eu me sentia outra pessoa, desidentificada com quem costumava ser. Era como se eu estivesse na profissão errada, com a pessoa errada, os amigos errados, a família errada. Me sentia inadequada em tudo.
Nesse período, de 2017 a meados de 2018, eu não conseguia me amar. Sentia que aquele corpo não era meu, que eu não estava no lugar correto, e nada do que eu comia me fazia bem. E atravessei essas dificuldades sem acompanhamento terapêutico, porque parecia que aquilo não era para mim. Isso acontece bastante com pessoas que, como eu, vêm da periferia e não encontram referências de pessoas próximas que façam terapia – ou de profissionais da área que sejam pretos, que entendam algumas questões que enfrentamos.
Foi procurando mais informação na internet que me deparei com histórias de outras mulheres tratando a endometriose profunda e trocando experiências. Aí, entendi que essa doença tem muita ligação com o nosso estado emocional e com elementos que desencadeiam processos inflamatórios no corpo – desde os hábitos alimentares, os de sono, a hereditariedade, a relação com as atividades físicas e as oportunidades de descanso, além, é claro, da chance de fugir do estresse.
Nessa troca de figurinhas, entendi que certos protocolos de hábitos e alimentação atenuaram meus sintomas, e associei a prática do autocuidado à medicina tradicional no tratamento. Mesmo assim, depois de ficar menopausada por mais de um ano, os focos de endometriose ainda apareciam nos meus exames. Então, fui encaminhada para o Núcleo de Endometriose do Hospital São Paulo, também pelo SUS – e esse acompanhamento fez toda a diferença, porque ali, sim, eles explicam como o nosso estilo de vida impacta no avanço ou na melhora da endometriose. Recebi muito amparo desde então.
A endometriose é uma doença que, se a gente realmente não entrar de cabeça num olhar para a vida, e só tentar operar ou tentar usar hormônios, ela tende a voltar. A parte mais cruel – e da qual temos menos informação – é que a endometriose demanda revisão dos nossos hábitos todos.
O que me pergunto é: quantas mulheres têm a oportunidade de passar pelos exames adequados, com as orientações certas e a possibilidade de adaptar seu estilo de vida para não agravar a doença? Mesmo aquelas que têm dinheiro – como é o caso de uma amiga que passou por algumas cirurgias de endometriose – ainda esbarram na falta de informações e protocolos adequados para esse tipo de quadro.
A gente ainda percebe muito machismo estrutural, inclusive na abordagem médica, do tipo: ‘Ah, então você quer ser mulher, trabalhar à beça, não ter filhos e ainda por cima não adoecer?’ Por isso mesmo, passei muito tempo fugindo de investigar a fundo a evolução do meu quadro. Só que, no ano passado, minha dor no umbigo voltou – e descobri um endometrioma umbilical, uma forma rara de endometriose, que atinge apenas 4% das pacientes da doença.
Esse momento foi muito assustador, porque meu umbigo cresceu a ponto de ficar saltado, com deformidades. Por outro lado, eu já estava bem amparada e tinha condições melhores para voltar à sala de cirurgia.
O mapeamento dos novos focos da doença foi feito com exames mais precisos – realizados com preparo intestinal específico – e entrei na operação num hospital particular com uma equipe multidisciplinar, composta pelo ginecologista, um gastro e um cirurgião plástico para refazer meu umbigo. A equipe explicou que, se a minha primeira cirurgia tivesse sido realizada com esse grau de estrutura e planejamento, provavelmente eu não teria que passar pela segunda.
Passei o último Natal sendo operada. Foi difícil conciliar tudo, mas sinto que estou em plena recuperação. Apesar disso, o cuidado com os meus hábitos de vida permanece.
Para ocupar os espaços que nós, mulheres, temos tentado ocupar hoje, temos que matar um leão por dia. Nesse processo, o olhar para as particularidades do nosso corpo podem acabar ficando de lado, especialmente em um mundo tão masculino. Mas acho importante lembrar que não é fraqueza nenhuma dedicar um tempo, uma pausa, uma atenção ao nosso organismo. A gente quer, merece e tem direito de chegar a posições melhores, mas não podemos nos sentir culpadas por dedicar tempo a nós mesmas.
Por muito tempo, o medo e a falta de acesso aos cuidados necessários com o meu corpo me afastou da possibilidade de cuidar dessas questões com sensibilidade. A própria tensão pré-menstrual virou um tabu: a gente precisa desse tempo para preparar o corpo para sangrar, mas não se permite. O mundo também julga.
Sinto que essa região afetada pela endometriose está muito ligada à criatividade nas mulheres. O útero, a vida. Eu, que escrevo, sou artista, faço música, doo o meu corpo para a criação de personagens, sinto que meu ventre precisa estar iluminado. E essa região passou um bom tempo obscura – por falta de informação e por solidão.
Toda a minha história com a endometriose durou quase uma década, porque dos meus 31 aos 40 anos lutei para viver. Perdi a conexão com o meu corpo, perdi a fé no meu trabalho, nos meus orixás. Foram meus trinta anos inteiros com a sensação de que tinha algo como um fungo crescendo dentro de mim. Hoje, minha terapeuta diz que fungos só crescem onde há umidade – que é sinônimo de vida. Mas eles não crescem na luz. Eu precisava mesmo iluminar a minha vida, e hoje me sinto realmente solar depois de tudo o que aconteceu, com muitas possibilidades se abrindo.
Querendo ou não, a doença me trouxe a capacidade de me olhar de verdade, a percepção do que é autocuidado e a noção de que a gente precisa se cuidar mais – sem sentir culpa por isso.
O fato de sermos 'mulheres guerreiras' não significa que a gente não possa descansar e revezar, ou se mimar, de vez em quando, para viver bem. Isso também é resistência. Ser uma mulher preta nesse país envolve tudo isso, mas resistência também é garantir que a gente possa ter uma vida longa – e isso, sim, é revide. Sem cuidado com a saúde mental, com a saúde física, com a saúde espiritual e energética, a gente não chega lá.”
Créditos
Imagem principal: Pamela Amyy
Fotógrafa: Pamela Amyy @pamela.amyy Assistente de fotografia: Laio Rocha @laiografia Assistente de produção: Thaise Reis @thaisereeis