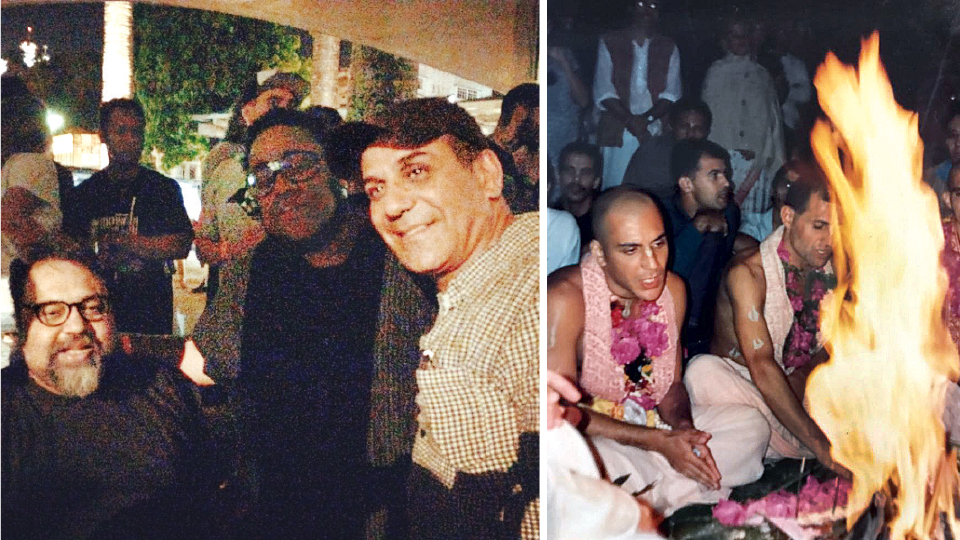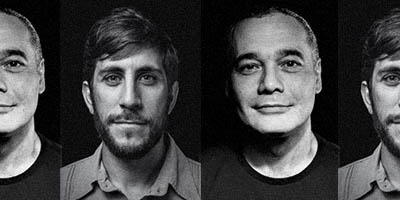As ideias para buscar uma sociedade mais justa e equilibrada na atuação de Orlando Zaccone, um delegado hare krishna favorável à legalização das drogas e à humanização de polícias e bandidos
Em quaisquer cinco minutos de conversa, o delegado carioca Orlando Zaccone, 53, é capaz de derrubar todos os estereótipos que costumamos ter de agentes da lei, a começar por ele próprio: um policial civil hare krishna, skatista, socialista, defensor dos direitos humanos e favorável à legalização de todas as drogas. Zaccone, porém, não pode nem deve ser resumido em suas etiquetas, tampouco lembrado como um agente da lei que na juventude teve um breve período em que lidou com o abuso do álcool. Antes de se tornar conhecido por suas contradições, ele percorreu um longo caminho, do qual carrega todas as experiências que teve para a sua atuação, seja na polícia, seja nos grupos ativistas dos quais faz parte – Policiais Antifascismo e Associação dos Agentes da Lei contra a Proibição (Leap Brasil).
LEIA TAMBÉM: Ilona Szabó: uma das lideranças mais influentes pela legalização das drogas
Sua participação nessas organizações o coloca em um campo em que os holofotes apontam para ele, o que provoca reações positivas, mas também bastante resistência de ambientes conservadores. Engana-se, no entanto, quem pensa que as respostas mais hostis vêm das corporações policiais. “A maior represália não vem da própria instituição, não, vem de fora, da imprensa principalmente. O Reinaldo Azevedo foi um dos grandes articuladores”, lembra. “Em 2008, quando saiu no O Globo a matéria ‘Delegado defende a Marcha da Maconha’, ele puxou reportagens sobre mim como hare krishna para dizer que eu sou ‘um ser de luz chegado aos holofotes’. Queria me desqualificar no debate sobre a legalização.”
Não funcionou e Zaccone segue sendo uma voz cada vez mais importante na discussão e, ao longo do caminho, ganhou, para além dessas vozes contrárias, muitos aliados e amigos, vindos inclusive de universos outrora distantes da rotina de um policial, como a música – “Marcelo Yuka é um irmão”.
A falácia da guerra
Na Leap, Zaccone vê aumentar o número de policiais filiados à associação. “São mais de 500, de todos os estados.” Para eles, a trajetória e as ideias de Zaccone apontam uma direção. “Fui o primeiro delegado a defender publicamente a legalização das drogas, ao lado de uma juíza. Muita gente que estava nesse campo acabou me tendo como referência”, explica, lembrando o convite que recebeu da juíza Maria Lucia Karam, responsável por criar a Leap Brasil, a partir do contato que teve nos Estados Unidos com a organização Law Enforcement Action Partnership. “Nos Estados Unidos, a Leap foi criada por policiais que iniciaram a DEA (Drugs Enforcement Administration), a agência de repressão a drogas, e, depois de alguns anos, já aposentados, pensaram: ‘Porra, fizemos uma cagada, prendemos um monte de jovens que não eram o perigo’”, explica. “Criaram uma associação com policiais que participaram da guerra às drogas na origem, lá nos anos 70, e que no início de 2000 resolveram denunciar a falácia dessa guerra”, explica.
Sua lucidez é contundente e sua tarefa diária é usá-la para guerrear contra estereótipos: do usuário, da polícia, do bandido e o da própria droga. “Distinção entre droga lícita e ilícita é uma falácia”, afirma, sempre lembrando que a substância que mais lhe trouxe problemas foi o álcool. “Eu tinha essa tendência e acabei tendo problemas que me levaram a me tornar uma pessoa que se abstém de contato com qualquer substância psicoativa há 21 anos. Me considero um adicto, é uma coisa que permanece.”
A Trip conversou com Zaccone sobre os caminhos que o transformaram nesse delegado com uma personalidade cheia de nuances nada óbvias para um policial.
Trip. Você nasceu dois dias antes do golpe de 1964. Sentiu efeitos da ditadura na sua vida, te afetava de alguma maneira?
Orlando Zaccone. Não, era muito jovem. Quando entrei na vida adulta já estava em um processo de abertura política. Entrei na universidade em 1982, já havia anistia. O que me marcou muito foi minha participação na reabertura dos centros acadêmicos.
Você fez faculdade do quê? Fiz duas universidades. Por questões familiares, acabei fazendo direito. E queria fazer comunicação na PUC. Havia toda uma aura que me apontava que fazer jornalismo ali era o que teria de mais porra-louca. Entrei em 1982, um ano depois foi convocada uma reunião para a reabertura do centro acadêmico. Tenho isso muito guardado na memória, e pessoas muito legais que passaram ali, Fausto Fawcett, que fazia experimentos com poesia, o pessoal do Casseta & Planeta, caras que inclusive depois descambaram pra direita, né?
Você conta que teve problemas com o abuso do álcool e um breve período em que usou outras drogas na juventude. Chegou a ser internado para tratar? Ainda bem que não. Tive apoio de grupos como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, que foram criados para que as pessoas pudessem aprender a viver sem as drogas sem se afastar da sociedade.
Começou a beber cedo? Com 14 anos entrei em coma alcoólico numa festa. Encarei isso, e todos encararam na época, como uma molecagem. Mas não era.
Quando foi convidado para integrar a Leap, você já tinha trabalhos acadêmicos em que pesquisava o tráfico de drogas. O que você estudava que chamou atenção da juíza Maria Lucia Karam? Escrevi uma dissertação, que resultou no livro Acionistas do nada: quem são os traficantes de droga [editora Revan], para mostrar como se faz a construção política do varejo das drogas nas favelas como alvo da repressão. Era principalmente uma crítica a respeito da economia das drogas ilícitas. Segundo o FMI, é a quarta maior do mundo. Como a quarta maior economia do mundo está na favela? Não está. Está no sistema financeiro.
Além desse, tem outro livro seu sobre drogas, que derivou de seu doutorado, mais focado na violência. Queria continuar meus estudos nessa questão, mas escolhi a letalidade a partir de ações policiais como um marco, pois é a construção do morto como inimigo que legitima a letalidade. A condição do morto é muito mais importante do que a forma como a polícia age. O Amarildo, por exemplo. A pergunta era: “Amarildo era traficante ou pedreiro?”. Tem que nomear como trabalhador para que ele tenha direito à vida. Se ele fosse construído como um traficante, não haveria responsabilidade para nenhum policial pela tortura e morte do Amarildo.
É um tema que coloca você em uma situação delicada com seus colegas. Mudou algo na relação com os outros policiais? Deu uma radicalizada, porque eu tenho muitos amigos que não concordam com 10% das coisas que eu defendo, mas estão lá, são amigos, conheci na polícia, muitos delegados, alguns agentes, alguns inclusive que foram para a Leap. E a partir do momento que você aponta para uma ferida maior do proibicionismo, que é a produção da letalidade, eles passam a me ver como alguém que está fazendo um discurso contra a polícia. E estou dizendo justamente o contrário.
Mas existe realmente nas pessoas essa sensação de que a polícia mata por matar. Tropa de elite, sinceramente, foi uma tragédia nesse sentido. Constrói essa ideia de que existe uma banda podre na polícia, que é a banda do dinheiro. E essa banda tem que ser combatida, porque a corrupção é algo indesejado. E quem vai combater a corrupção dentro da instituição policial? A banda boa, a banda do capitão Nascimento, que é a banda da violência. Isso legitima a violência como algo que a polícia não pode evitar, algo necessário, de que a gente não pode prescindir. Abrir mão dessa violência policial seria entregar a sociedade ao caos.
A que você atribui essa visão justiceira que a sociedade tem demonstrado? A violência policial não incomoda a sociedade brasileira. Começa com o genocídio indígena, tivemos a escravidão e permanece hoje na legitimidade da violência policial.
Muita coisa mudou desde o início da Leap? Dez anos atrás não tinha a experiência do Uruguai, o Fernando Henrique e as organizações Globo ainda não tinham entrado no debate, porque isso também faz uma mudança. Uma coisa é a garotada na Marcha da Maconha, que desde 2008 está na rua e foi duramente reprimida. Escrevi em 2008, já como integrante da Leap, um artigo no site deles dizendo que não era crime. Eles estavam sendo acusados de apologia.
Você defende a legalização de todas as drogas? Brinco que a legalização da maconha é a porta de entrada para a legalização de todas as drogas. Defendo, e isso não é contraditório. A proposta da Leap é discutir não os efeitos nocivos das drogas – porque esse você pode discutir com a droga legal ou ilegal, as pessoas não deixam de usar porque é proibido. O que a gente discute são os efeitos nocivos da proibição, que são muito piores do que os do consumo.
As mortes decorrentes dessa guerra constante. Mais pessoas morrem pela proibição do que pelo consumo, nas guerras estabelecidas entre as forças policiais e o tráfico dentro das comunidades. Sem contar as pessoas que morrem com carimbo de traficante.
As suas visões de mundo rompem com o estereótipo que temos da polícia. Do estereótipo da esquerda, de que o policial é corrupto e violento, e do da direita, que é muito pior, do policial herói, que tem que dar a sua vida em sacrifício na luta do bem contra o mal. Nós, do movimento Policiais Antifascismo, queremos construir o policial como trabalhador, um prestador de serviço de segurança pública, que tem que ser cobrado como trabalhador, e não como um agente do Estado. Isso é muito importante.
A sua luta para derrubar estereótipos passa também por desconstruir a idealização que temos do bandido? A partir da minha experiência como delegado, observei como o crime de tráfico era autuado em Jacarepaguá – em todo plantão eu fazia um flagrante e a pessoa tinha o mesmo perfil: short, descalço, sem camisa, com um saco de droga na mão, sem arma. Saí de Jacarepaguá e fui pra Barra. Passa um mês e não tem tráfico, dois meses, três meses, quatro meses e não tem tráfico. Um bairro colado no outro. O que mudava tanto? A polícia não consegue identificar o traficante. Por quê? O sistema de justiça criminal – que eu chamo de “sistema injustiça criminal” – atua de forma seletiva, escolhendo quais são as condutas e quem são as pessoas que vão sofrer a repressão.
E como isso é feito? Não é racional. O policial não acorda e fala “que dia lindo para prender negros pobres”. A polícia, o carro-chefe da justiça criminal, atua principalmente nos crimes que ocorrem no espaço público, foi criada para fazer a vigilância. Portanto, os crimes que ocorrem em espaços privados têm muito mais dificuldade de serem identificados e, evidentemente, o tráfico em áreas nobres acontece em espaços privados, em condomínios, casas de show... A polícia tem muita dificuldade, precisa de ordem judicial, de uma investigação sofisticada. A seletividade vai ocorrendo assim. É muito mais fácil identificar o tráfico de drogas na favela, até porque todas as políticas são direcionadas para combater o tráfico que ocorre nas favelas, nos guetos. É uma construção política.
Você fez um projeto social nas carceragens que se guiava nessa percepção humana. É uma parte importante da minha história. Em 2007, assumi uma delegacia, a 52ª DP, de Nova Iguaçu, e pela primeira vez tive contato com a realidade prisional, tinha 500 presos nessa delegacia – metade era Comando Vermelho e metade Terceiro Comando. A gente desenvolveu um projeto de nome horrível, Carceragem Cidadã, mas era legal. Era uma situação muito tensa e consegui desenvolver uma ação com a ajuda de amigos a quem não posso deixar de fazer referência: o Marcelo Yuka, por exemplo, é meu irmão.
Como eram as ações? A gente passou a dar voz ao preso, no sentido de reconhecer os seus direitos e atender as suas demandas. Montamos uma biblioteca, um cineclube, havia rodas de funk dentro da carceragem, em que músicos iam lá. A gente começou a fazer muitos eventos. Isso gerou um ambiente político que proporcionou que, nas eleições municipais de 2008, pela primeira vez presos no Rio de Janeiro votassem. Isso teve uma repercussão muito grande. A gente ganhou um prêmio da fundação Ford.
Que resultado desse projeto mais marcou você? Me marcou muito um preso que passou na Uerj em serviço social e me escreveu uma carta dizendo que a possibilidade que ele teve na carceragem, de ser um agente político, fez ele se interessar em dar continuidade a sua formação aqui fora. Naquele momento, tive a percepção concreta de que é possível para o poder público mudar a forma como ele conduz essa relação com detentos.
Como você chegou ao movimento Policiais Antifascismo? Estamos num momento em que a sociedade brasileira vai meio que legitimando e defendendo o extermínio de grupos identificados como perigosos. Isso é fascismo. Então, entraram em contato comigo policiais de Salvador, do Coletivo Sindical Sankofa, que tinha uma militância sindical e uma entrada em movimentos sociais progressistas, no movimento negro, em partidos de esquerda. Fui convidado a falar em Salvador em um encontro de policiais que querem uma polícia mais próxima do povo e menos próxima do Estado. A gente tinha que nomear esse grupo dentro de um campo político.
O que você tira de mais importante dessas experiências tão diversas, com o movimento hare krishna, com os Policiais Antifascismo, com o álcool e as drogas, com a polícia, com os bandidos, na Leap? Isso tudo me trouxe uma consciência de vincular também a necessidade de sermos livres e de buscarmos um sentido de liberdade para esse mundo. As pessoas cada vez mais acham que as limitações das liberdades são respostas para os problemas. Estou em outra onda: quanto mais lutarmos por liberdade, mais nos aproximamos de uma sociedade com menos violência e menos intolerante.
Créditos
Imagem principal: Fernando Young