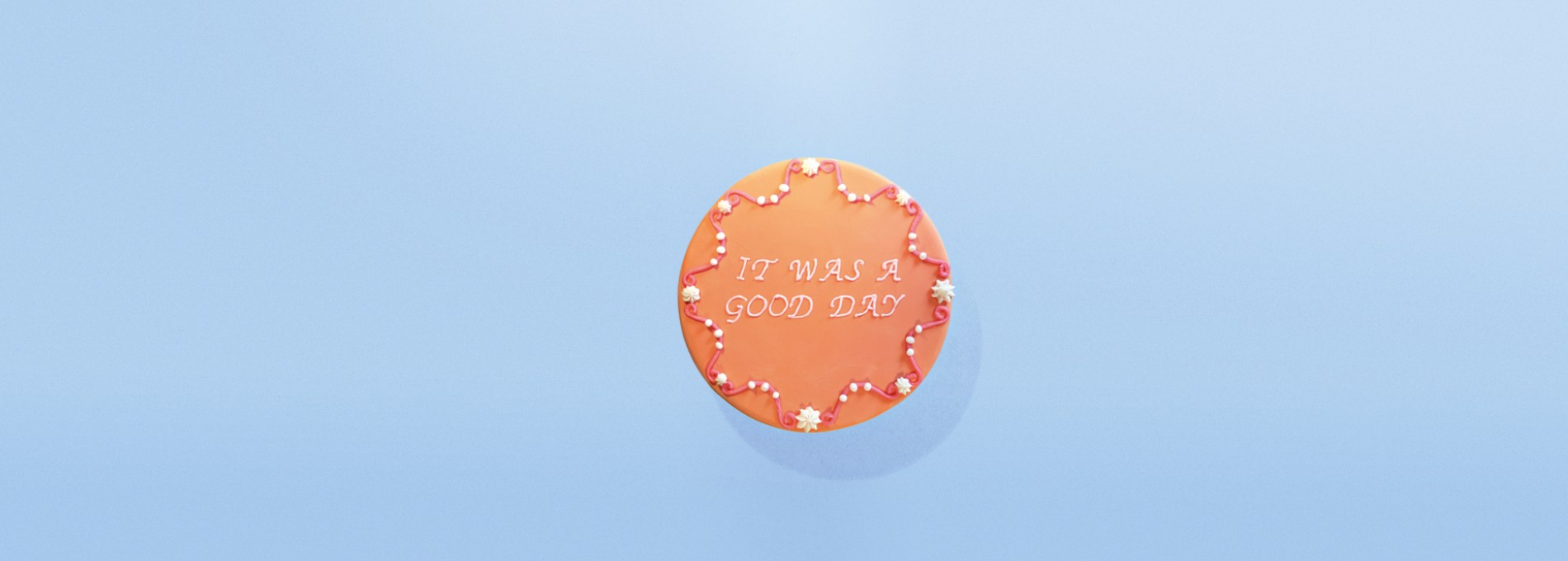Viver não é uma coisa confortável e nunca vai ser. E é um enorme privilégio ser equipado com a capacidade de se importar e de amar
Se tudo der certo, minha mãe vai morrer antes de mim. E esse é o melhor cenário possível: o de que enterraremos nossos pais. A outra opção não faz sentido e não deveria jamais acontecer. Ainda assim, mesmo sabendo que essa ordem é a mais justa, a ideia de que velaremos aqueles que nos colocaram no mundo é assustadora. A ideia de que haverá o dia em que receberemos a notícia de que quem nos deu a vida morreu convida a não pensarmos, a não nos entregarmos a devaneios, a não perdermos tempo com esse tipo de horror. Seria bastante bom se pensamentos como esses não ocupassem a nossa mente, mas não controlamos o próximo pensamento, ou aquele que vem depois dele, e temos que nos adaptar ao infernal barulho interno que vai com a gente para todos os lugares a todo instante de todos os dias. Viver não é uma coisa confortável, e nunca vai ser.
Para a filosofia espiritual indiana, somos um sonho do deus Vishnu. Nada do que acontece aqui é, portanto, real. Nem você, nem eu, nem esse computador no qual agora escrevo, nem o prazo para entregar este texto – o que soa agora como um alívio – nem a ideia que fazemos uns dos outros. Tudo é sonho, o sonho de um deus. Só que, a julgar pelo horror que nos cerca, não é difícil supor que o deus que está agora mesmo sonhando nossas vidas é uma espécie de sádico, um tipo bastante particular de monstro. Não fosse assim, por que um ser dotado de capacidades infinitas sonharia dores e tristezas e perdas e misérias e sofrimentos? Por que não sonhar apenas o amor, a união, a paz, a abundância?
A vida não faz sentido
A vida, segundo Arthur Schopenhauer, nem deveria ter sido. Então, como fazer as pazes com aquilo que parece apenas absurdo e seguir?
Recentemente, tive que renovar minha carteira de habilitação, o que me levou ao Poupa Tempo da Praça da Sé, em São Paulo. Sugiro que todos aqueles que queiram testemunhar os efeitos de uma administração neoliberal – que enxerga a competição como a característica que define todas as relações humanas, fazendo com que acreditemos em ficções como meritocracia e outras mais – passem pela Praça da Sé e vejam a distopia: são dezenas e dezenas de seres humanos vivendo como bichos, como almas penadas, como sobrevivem aqueles que foram abandonados pela sociedade. Andar por ali é dar razão a Schopenhauer; a vida não deveria ter sido.
LEIA TAMBÉM: Todos os textos de Milly Lacombe
Mas não há o que temer: para o neoliberalismo, a desigualdade é boa porque ela recompensa o esforço. O mercado garantirá que todos tenham o que merecem e, nesse cenário distópico de puro horror, ricos se convencem de que são abastados porque merecem e não porque receberam vantagens como educação, herança ou classe social.
Curiosamente, as pessoas mais esforçadas que conheço são bastante pobres, apesar de trabalharem 15 horas por dia. Mas a beleza monstruosa do sistema é a de que o pobre acredita que é ele mesmo o culpado pelo seu fracasso: numa sociedade orientada pela competição, os que não vencem se autodenominam perdedores.
O capitalismo, em sua versão mais atual, o neoliberalismo, oferece apenas uma liberdade, a liberdade para que nos endividemos. Para o capital, tudo; para a população, a crença na fictícia meritocracia.
A verdadeira divindade desse sistema se chama dinheiro. Nada em nossa sociedade merece a proteção que damos ao dinheiro. Basta ver como estão armados e atentos os homens que protegem os carros-fortes pelas cidades. O dinheiro é um deus, o deus para o qual todos se curvam e ao qual todos obedecem. Não paramos para pensar que o dinheiro é uma ficção que inventamos a partir do nada, como Vishnu fez com nossas vidas.
Uma sociedade assim organizada produz muitas coisas, as quais podem ser chamadas de epidemias: solidão, angústia, ansiedade, depressão. Então, como seguir? Como aceitar tanta injustiça e continuar vivendo?
Cabe ao artista ir buscar formas para que nos reconciliemos com as fundações de nossa existência. Cabe a ele dizer sim à vida, a todo o horror e a todo o esplendor. Cabe ao artista dizer sim a tudo o que é, a esse sonho maluco de Vishnu e, assim, tornar suportável o que parece insuportável. A vida é boa; em sua majestade e em suas tempestades.
Em tempos de completa destruição de valores, em época de multiplicação de ódios e preconceitos e de aumento de desigualdades abissais, é papel do artista mostrar que a primeira grande atitude é a de agirmos para atender às necessidades básicas de todos os seres humanos.
Só quando estiverem resolvidos os problemas do homem-bicho é que, enfim, poderemos nos dedicar a aprender a tocar flauta ou a sentar preguiçosamente na rede num fim de tarde qualquer para ler um livro. Não se trata de economia como os cadernos de jornal enxergam, mas de relações, de sentidos, de cooperação social, do sagrado direito de que todo ser humano exerça um trabalho criativo.
A majestade e as tempestades
Trabalho envolve sexualidade, gênero, generosidade e cooperação. Trabalho envolve entender como nos tornar humanos e não apenas operadores financeiros: a economia definida como abstração de complexos processos sociais. Educação não é formar a personalidade financeira de alguém ou entender como ganhar dinheiro. Educação é saber quem você é, quais são seus valores, quais são seus talentos e paixões, é sobre se investigar, fracassar e se reerguer. Sobre como ser capaz de enxergar o outro e entender que ninguém existe sozinho.
E então voltamos à minha mãe, que este ano fez 81 anos e não dá sinais de que vai partir tão cedo. Ainda assim é razoável pensar que, se tudo der certo, ela sai de cena antes de mim. O horror e a crueldade dessa nossa aventura terrena: na melhor das hipóteses, haverá ainda muitas tristezas para serem vividas – a majestade e as tempestades.
LEIA TAMBÉM: Nos queremos vivas
Outro dia tive que ir para o Rio de carro sozinha e, ao saber disso, minha mãe então me disse a frase que talvez tenha sido a mais repetida desde que eu, aos 28, saí de casa: “Me liga quando chegar”.
Não sabemos quanto tempo ainda temos com aqueles que amamos, não sabemos se depois daqui poderemos reencontrá-los, não sabemos de quase nada, a bem da verdade, ainda que vivamos como se todos fossem eternos. Mas sabemos que ainda podemos ligar quando chegarmos, e que é um enorme privilégio ser equipado com a capacidade de se importar e de amar.
Amar aqueles que estão do nosso lado, amar aqueles que estão longe, amar aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos. Se há um sentido para toda essa maluquice, tem que ser esse: aprender a alargar nossos campos de afeto. E, claro, ligar quando chegar.
Créditos
Imagem principal: Beccy McCray