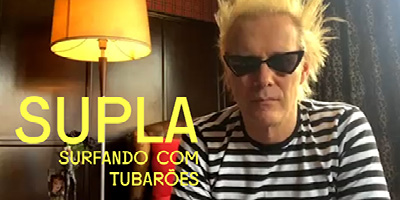José Padilha decidiu surfar em outra praia. Pegou mulher, filho e rumou para Los Angeles. É sobre isso – e sobre Hollywood, vergonha, indignação, entre outros assuntos – a entrevista a seguir
Quando homens armados tentaram entrar em sua produtora no Rio de Janeiro, pouco depois do lançamento de Tropa de elite 2 – O inimigo agora é outro (2010), José Padilha passou a andar com seguranças. Mas durou só duas semanas. "Não aguentei. A vida virou um estresse. Daí deu a primeira vontadezinha de zarpar", disse o diretor carioca, na sala de sua nova casa em Los Angeles, Estados Unidos, no bairro de Fryman Canyon, onde moram George Clooney e Miley Cyrus, entre outros famosos. "Ir embora não é uma decisão fácil, eu amo o Brasil."
A mudança faz menos de um ano e aconteceu também por causa de trabalhos e pela canseira da qualidade de vida no Brasil, além do desânimo político. "A cidade do Rio é a barbárie", desabafa. Trouxe a mulher, Jô Rezende, com quem está casado há 20 anos, e o filho Guilherme, de 11 anos. "Estava com um monte de propostas aqui. Falei pra Jô e pro Gui: Vocês querem ir para Los Angeles, ficar quatro, cinco anos, ver qual é?’. E aqui estamos."
A casa de quatro quartos e piscina, avaliada em mais de US$ 3 milhões, está decorada pelas mãos da mulher. Tem uma fotografia do Tibet de Marcos Prado, parceiro de Padilha na produtora Zazen, pendurada na parede da escada. No segundo andar, um quimono vermelho, um pôster do Bob Dylan e uma prancha de surf enfeitam o corredor. Quando adolescente, Padilha, cujo pai era um industrial que chegou a arriscar carreira no cinema, quase virou jogador profissional de tênis, até uma lesão no ombro o afastar. Isso acabou levando Padilha para o surf, que tem praticado mais aqui na Califórnia, quando o filho acorda antes das 5 horas para pegar onda.
Com a mudança para os Estados Unidos, o diretor começou um novo projeto com Wagner Moura, o seriado Narcos, do Netflix, sobre a história da cocaína e do traficante colombiano Pablo Escobar (1949-1993), vivido pelo ator brasileiro. Padilha é um dos produtores e diretor dos dois primeiros episódios, que dão o tom de toda a série. "Quis dar um estilo parecido com Cidade de Deus, Tropa de elite, Bons companheiros", conta.
A primeira temporada, com dez capítulos e sem data de estreia, tem elenco internacional, com gente dos Estados Unidos e vários países da América Latina. Será falada em espanhol e inglês. "A cocaína estimula o centro de prazer no cérebro. É muito interessante porque você começa a entender que os grandes movimentos sociais e econômicos estão ligados à neurologia do cérebro", diz. "Tentamos falar também sobre isso na série."
"O problema é a polícia"
Padilha estudou de tudo um pouco na vida, menos cinema, formalmente. "Minha formação é meio maluca", diz. Ele entrou na Pontifícia Universidade Católica (PUC), do Rio, para fazer engenharia e se transferiu para física, que acabou trancando para ir trabalhar num banco de investimentos. Ao voltar, foi fazer e terminar administração de empresas. "Peguei ódio do sistema financeiro", lembra.
O esporte, os livros e os estudos de lógica foram as três coisas que mais o ajudaram em seu cinema, ele acredita. Enquanto o tênis deu a disciplina, a lógica deu o entendimento de uma estrutura abstrata. "E a literatura me deu uma sensação de dramaturgia. A coisa mais importante para fazer cinema é ler", arremata.
Foi na época em que largou o mercado financeiro que seu amigo Marcos o chamou para fazer um ensaio sobre os trabalhadores de carvão vegetal pelo interior do país. Anos mais tarde, viraria o documentário para TV Os carvoeiros (1999), no qual assinou sua primeira produção e roteiro. Na sequência, veio o documentário premiado Ônibus 174 (2002), sua estreia na direção, sobre o sequestro de um ônibus na zona sul do Rio, em 2000, por um rapaz que havia sobrevivido à chacina da Candelária, em 1993.
O polêmico e popular Tropa de elite (2007), sobre as ações do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) nas favelas do Rio de Janeiro, consolidou a carreira de Padilha, ganhador do Urso de Ouro do Festival de Berlim, e trouxe uma nova voz ao debate cultural e político do país. A sequência veio três anos depois, também um sucesso de bilheteria.
"Todos os filmes que fiz ajudaram um pouco a falar: ‘Olha, o problema é a polícia’. A polícia é mais problema que o tráfico", afirma o diretor, que completa 48 anos em agosto. "Sempre tive uma tendência a me indignar. Se eu vou ao Maracanã e o juiz rouba o Flamengo, eu fico puto da vida."
Quando você diz que é brasileiro aqui nos EUA, passa mais tempo defendendo ou criticando o país? Conversando com gente de cinema, produtores etc., eles têm uma ideia de que o Brasil é uma economia que está crescendo porque as bilheterias estão crescendo no Brasil. Eles imaginam que a economia está bombando, como bombou há oito anos. Não percebem o que está acontecendo porque a deterioração do Brasil foi muito rápida e tão aguda que a mídia daqui não acompanhou. Então, quando eles me falam "e o Brasil está bombando", eu falo "não está, não", tem aquela cara de espanto: "Como? O que aconteceu?". A minha experiência é que as pessoas não acompanham o Brasil, é quase desimportante para o americano normal.
O Werner Herzog diz que Los Angeles é a cidade com mais substância cultural dos EUA. Já o Woody Allen diz que a única vantagem cultural de Los Angeles é poder virar à direita no farol vermelho. Qual é a sua Los Angeles? Meu estilo de vida é caseiro, sou um cara que quase não sai de casa, leio a maior parte do tempo, escrevo, estudo, fico com meu filho, minha esposa e tenho poucos amigos. Não sou um cara que vive a cidade. Agora, Los Angeles para mim tem uma característica bastante interessante, tem o que você quiser, é possível montar muitas Los Angeles. Por exemplo, eu gosto de meditar e de zen-budismo. Aqui tem três ou quatro centros de meditação zen-budistas. Se quiser fazer ioga, tem; tênis, que eu adoro, tem também. Agora, é quase que uma obrigação do Woody Allen, como morador de Nova York, falar mal de Los Angeles. Normalmente, ele fala isso naquele frio danado enquanto a gente está pegando onda aqui no sol. E o Woody Allen não consegue pegar onda, vamos combinar. Então ele tem que ficar em Nova York mesmo [risos].
Quando o pessoal fala que está morando em Los Angeles, vem a imagem de Hollywood, glamour e tal. Existe isso? Você sai para jantar com figurão da Academia do Oscar? Sou membro da Academia, voto, mas eu me interesso mais pelos documentários. Ano retrasado, a Academia me convidou para entrar, junto com o Eduardo Coutinho. Então eu recebo os documentários, dou minha opinião e voto nos outros filmes também. É bom porque você recebe todos os filmes antes. A grande vantagem é essa, você paga uma módica quantia anual de US$ 300 e ganha todos os filmes. Isso é legal, é bom. Mas, agora, que figurão eu conheço? [Risos] Conheço o [músico] Rodrigo Amarante, serve? Hollywood é um bairro e um letreito. Essa coisa de: "ah, o cara está lá no glamour de Hollywood", isso não existe, é que nem acreditar na Ilha de Caras, né? A Ilha de Caras não existe, pegam uns atores e atrizes e fazem um negócio lá pra vender uma revista furreca [risos].
E o que fez você comprar uma casa e mudar de vez? O Wagner Moura disse que estava feliz porque ia passar dois anos fora porque não aguentava mais o Brasil e... E aí apanhou que nem boi ladrão, né? Só uma pessoa completamente alienada da realidade pode tentar imaginar que um brasileiro consciente não vai ficar chateado com o que está acontecendo no Brasil, ou vai achar que o Brasil está bem, que o Brasil está no caminho certo. Acho que a frase do Wagner é salutar. Todo mundo tem o direito de buscar seu caminho profissional. O Wagner quer abrir outros horizontes, a gente acabou de fazer uma minissérie com o Net-flix que pedia que a gente estivesse aqui nos Estados Unidos (a gente filmou na Colômbia, sobre um assunto latino-americano). É impossível fazer uma minissérie assim no Brasil com atores chilenos, peruanos, colombianos, argentinos, mexicanos, americanos. É aquela velha ideia de "vamos integrar o cinema da América Latina", há mais de 20 anos que se fala nisso e quem é que fez? O Netflix, aqui.
Mas e você, pediu pra sair por quê? Por motivos diferentes. O primeiro motivo pelo qual eu vim pra cá, e acho que nunca falei isso pra ninguém, aconteceu na época em que o Tropa de elite 2 foi lançado. Estava na minha produtora, no Jardim Botânico, e um belo dia alguém ligou e perguntou se eu estava. A secretária respondeu: "Ah, o Zé tá sim, tá numa reunião". E a pessoa: "Ah, tudo bem, só estou checando porque a gente marcou uma reunião". Dez minutos depois, na minha pequenininha rua no Jardim Botânico, entraram duas motos pela contramão, e está tudo filmado, pararam em frente à produtora, um carro parou na esquina e o cara tocou a campainha e perguntou por mim. Minha secretária, esperta pra caramba, se ligou e disse que eu não estava, e os caras, armados, ficaram insistindo uns 3, 4 minutos para entrar. E eu dentro da produtora, olhando na câmera e pensando: os caras vieram me sequestrar, né? Olhei em volta, o que eu tenho aqui? O Marcos Prado, meu sócio, tinha acabado de filmar Paraísos artificiais e tinha um arbalete, uma arma de mergulho, de pescar. Peguei o arbalete porque, se os caras entrassem, eles iam me pegar. Eu rindo, mas rindo de nervoso, né?
E eles entraram no final? A gente ligou pra polícia, pra segurança, o tempo foi passando e os caras subiram nas motos e foram embora. Peguei o material filmado e levei pro Rodrigo Pimentel [ex-membro do Bope e coautor do livro que foi adaptado para o primeiro Tropa de elite] analisar e dizer o que achava. Fomos processados por vários policiais no Tropa de elite 2 e ganhamos todas as ações (os caras ainda tiveram que pagar o custo advocatício). Será que isso é vingança? O que é? Aí o Pimentel virou pra mim e disse: "Zé, você tem que ter segurança, vai precisar ter dois policiais com você para dois turnos, dois com seu filho, dois com a sua mulher". Daí eu falei: "Cara, não quero viver assim".
O que dá mais vergonha do Brasil neste momento? O Brasil perdeu a sensibilidade para o absurdo. A cidade do Rio de Janeiro é a barbárie. Outro dia me deu vontade de chorar. Estava lá no jornal a foto de um médico morto, na Lagoa Rodrigo de Freitas, a facadas, para roubar a bicicleta dele. Duas semanas antes, o marido da minha irmã estava andando de bicicleta na Lagoa e foi esfaqueado, roubaram a bicicleta, e ele passou a noite no hospital. Tenho outro amigo, arquiteto, cujo filho sofreu a mesma coisa. Vamos fazer um paralelo: é como se a gente estivesse no Central Park, em Nova York, e as pessoas que estão andando de bicicleta fossem esfaqueadas. Sabe o que ia acontecer? Ia fechar o Central Park, ia ter quinhentos policiais, não ia acontecer. Porque o sujeito que está em Nova York consegue ver o absurdo, a gente não consegue mais ver o absurdo.
E na política? O Brasil está bastante dividido politicamente. Durante as eleições, você chegou a perder amigos? Não. Eu enchia o saco deles, sou chato, mas fazia com humor. Preguei não votar em ninguém. Estava vendo meus amigos assim: "Ah, sou Dilma", "Sou PSDB", "Sou não sei o quê". Mandei mais de 50 e-mails enchendo o saco do Marcelo Freixo [deputado estadual do Rio] por conta dos apoios dados à campanha da Dilma. É evidente que quem estava apoiando a campanha da Dilma apoiava um governo que ia morrer nos próximos seis meses. Já era claro o tamanho da corrupção. No minuto que você aceita que vai associar o seu nome a bandidos, você já perdeu porque o seu parâmetro ético e moral já desceu a tal nível que virou discussão de malandro de botequim. E discussão de botequim o Lula ganha porque ele é malandro de botequim [risos].
Essa sua indignação política vem de onde? Que tipo de educação seus pais te deram? Meu pai tem uma parte importante nisso. Ele sempre foi empresário, estudou em Houston, aqui nos Estados Unidos, fez uma carreira quase totalmente voltada à ciência e depois foi pro Brasil e abriu uma indústria. Fazia coisas com polímeros, matériais plásticos, tinha algumas patentes, inventou processos. E ser industrial e empreendedor no Brasil nunca foi fácil. Sempre vi meu pai tentando fazer coisas e tendo dificuldade, sempre indignado com o processo inflacionário e com o fato de que no Brasil claramente havia a opção de facilitar a vida do sistema financeiro. Meu pai sempre me falava sobre essas coisas e eu sempre fui um cara curioso, sempre me interessei por ler, estudar economia, olhar a história do meu país. E meu pai, em algum momento da carreira, resolveu fazer cinema. Não para ganhar dinheiro, mas para... até hoje não entendo muito bem a razão. Ele montou uma empresa da qual faziam parte o Joffre e o Nelsinho Rodrigues [filhos de Nelson Rodrigues], que é um cara fantástico, um cara de esquerda que ficou preso lá em Ilha Grande. Eu tinha uns 16, 17, 18 anos. E todos conviviam juntos, é até engraçado, uma coisa bem brasileira. Você tem um cara que pensa com uma cabeça liberal e tem um cara que pensa de maneira marxista, e eles são amigos, têm uma empresa de cinema juntos.
Como foi crescer no Rio de Janeiro dos anos 70? Cresci numa família de classe média alta, era ditadura. Era difícil para uma criança de classe média alta entender a realidade, demorou um certo tempo, mas na adolescência você percebe. Peraí, a gente não vota? Sempre fui exposto a diferentes ideias. Ideias do cara que foi parar na prisão, do movimento que tentava derrubar a ditadura militar. E ideias do pensamento empresarial, através do meu pai, que era contra a ditadura, sempre foi, mas que tinha um olhar crítico: "Pô, peraí, o que acontece se esses caras ganharem? Vira o quê? Cuba? Mas Cuba não é tão legal quanto eu queria que fosse". Então eu cresci um pouco nessa mistura de ideias e influências. E, quando era confrontado por essas opiniões diversas, eu ia ler. Li desde Hayek e Von Mises, que são liberais, a Marx e Bakunin. Tentei estudar um pouco de macroeconomia, sozinho mesmo, em casa com um livro e sem professor.
Que tipo de adolescente você era? Qual era a sua praia ou balada no Rio? Meu esporte era jogar tênis, jogava desde os 8 anos. Treinava 2 horas todos os dias e viajava pelo Brasil fazendo circuito. Meus amigos eram tenistas e o esporte era muito importante para mim. Então, minha adolescência era ler muito, estudar e jogar tênis. Nunca fui de balada, nunca saí para a noite. E só aprendi a pegar onda – isso é um defeito que eu tenho – bem mais tarde [risos]. Tênis é um esporte interessante porque é individual, você não tem desculpa se você perde, não é que nem futebol, que pode culpar o juiz, o goleiro. Se você não treinar, você não ganha. Isso ajuda no cinema. As pessoas acham que cineasta é o cara que vai no Baixo Gávea tomar cerveja, fumar maconha e ter ideias. Não é nada disso. O cineasta tem que acordar às 4 horas para pegar a luz das 5 horas. É uma operação de guerra. E ter um esporte que te dá disciplina é bom, foi bom pra mim.
E como você aprendeu a surfar? Pega onda aqui? Tinha uns 18, 19 anos. Comprei uma prancha e fui pegar onda. Aprendi com amigos, Fred D’Orei pegava onda, o Rosaldo Cavalcanti, Marcelo Bôscoli, surfistas cascas-grossas daquela época. Comecei a conviver mais com eles quando saí do tênis. Mas não pegava onda sistematicamente, comecei agora por causa do Gui [o filho de Padilha, Guilherme]. Ele adora, a gente acorda às 5 horas, eu já acordo cedo de qualquer maneira, daí entramos no carro e vamos. Tem altas ondas aqui. As pessoas associam o surf com "ah, o cara é surfista, é vagabundo". É uma bobagem. Tem uma grande quantidade de surfistas aqui na Califórnia, vários roteiristas são surfistas, atores surfistas, professores de universidades pegam onda. O surf pode ser uma forma de aprendizado, de educação incrível.
Que tipo de surfista você é? Eu pego onda, fico na onda, mas não sou um surfista radical nem nada. Sou um surfista quarentão [risos].
Voltando ao Rio de ontem, como você foi parar no mercado financeiro? Durou sete meses, eu entrei em depressão. Sentei numa mesa de open e comecei a olhar pro dia a dia daquilo, tinha oferta de leilão de títulos públicos diariamente, era o overnight, com uma inflação maluca e o banco ganhando dinheiro no depósito à vista. Eu olhava e pensava: "Ah, esse é o mecanismo que transfere renda do pobre pro rico". O governo está quebrado, tem um puta déficit, precisa ser financiado todo dia, compra e vende títulos com lucro pros bancos, os bancos captam com depósito à vista... Não vou entrar em detalhes, mas é a coisa mais injusta que você pode imaginar, é uma espécie de Bolsa Família ao contrário.
Ganhou dinheiro pelo menos? Não. Trabalhei no Banco Nacional, um banco de investimentos. Em vez de pensar em como eu iria ganhar dinheiro, pensava: "Não é possível que este país seja assim". Fui ficando deprimido. Nisso, o Marcos Prado, grande amigo meu, fotógrafo na época, me chamou para fazer um negócio na Eco 92 sobre os carvoeiros. Eu pensei: "Vou descansar por um ano e depois vejo o que faço". Fomos fazer o documentário, na minha cabeça era só para desestressar. E fui continuando e estou aqui até hoje, virei cineasta.
E o cinema no Brasil agora, como a crise afeta? O cinema no Brasil não está em um momento muito bom. É difícil levantar dinheiro para fazer filme. Qual o último filme brasileiro que o Fernando Meirelles fez? O último do Walter Salles? Difícil! Porque os recursos vão para essas comédias televisivas. São televisivas mesmo, vamos falar logo a verdade. É televisiva e é ruim, é baixa qualidade, péssimo roteiro, é ruim. Nada contra o cara fazer um business e ganhar dinheiro, mas a qualidade artística é ruim. E muita parte do recurso do audiovisual vai para isso.
Esses filmes são mais baratos de fazer, são comédias, têm uma demanda. Já um Tropa de elite tem um custo de filme de ação, um Cidade de Deus também.
Mesmo com dois blockbusters você não consegue levantar dinheiro para fazer os filmes que quer no Brasil? Talvez consiga, nunca tentei. Mas não é tão fácil. Uma das coisas que aconteceram no Ministério da Cultura e na Ancine foi que o valor do orçamento de um filme no Brasil que você pode levantar foi caindo. As pessoas não se dão conta disso. O real desvalorizou, o Brasil tem inflação, então o real não compra a mesma coisa. O preço de um bom fotógrafo ou de uma boa câmera é indexado ao dólar, por conta dos comerciais, então os orçamentos foram diminuindo. Tenho vários roteiros sobre Brasil e Rio de Janeiro que a gente está desenvolvendo, mas é muito difícil agora. E o dinheiro que a Ancine viabiliza é o pior dinheiro do mundo, é um dinheiro que você vai colocar no seu filme, e a chance de você fazer daquele projeto um projeto que a produtora vai ganhar dinheiro se torna mínima por conta das condições que o dinheiro é dado. Não estou falando que está errado nem certo, mas é um fato. Tudo isso empurra o cinema para a comédia barata, romântica, associada e atrelada a uma fórmula televisiva.
Você veio para Los Angeles para filmar Narcos, mas acabou se mandando pra Colômbia. Como foi a viagem? A ideia é contar a história da cocaína. Na verdade, a cocaína não começou na Colômbia. A cocaína começou a ser produzida e industrializada no Chile, por incrível que pareça. Acho que o Chile só não se manteve e virou o maior centro exportador de cocaína porque, quando os Estados Unidos apoiaram o Pinochet e o Pinochet entrou no poder, ele foi lá e destruiu os laboratórios que existiam no Chile. O Pinochet matou grande parte dos intelectuais chilenos, fez uma repressão absurda, torturou as pessoas e tal, mas matou os traficantes de drogas também. O método era o do pelotão. Só que teve um traficante (é impressionante, mas é uma história verdadeira), chamado Cucaracha [barata em espanhol], que escapou, foi para a Colômbia e apresentou o processo de cocaína para o Pablo Escobar. Nossa série começa aí. Falamos do cartel de Medelín e também da ascensão do cartel de Cali.
Há muitos livros e filmes sobre o Pablo Escobar. Qual a novidade de Narcos? A gente tem uma arma secreta: Wagner Moura [risos]. Queria muito fazer alguma coisa com ele de novo. Além de ser meu grande amigo, ele é um ator incrível, um dos maiores do mundo. Está no mesmo patamar dos melhores de Hollywood e de qualquer lugar do mundo. O Wagner foi pra Medelín, por conta própria, entrou na universidade bolivariana como estudante, ficou lá estudando e morando em Medelín dois meses antes de começar a série, para aprender não só a falar castelhano bem falado, mas o sotaque da região. Por outro lado, tive a sorte de descobrir esse ator, Boyd Holbrook, que não tinha feito nada muito grande até então e que vai ser o inimigo do Pablo Escobar. Estamos contando a história do ponto de vista da DEA [agência anti-drogas dos EUA], que estava na Colômbia monitorando, forçando o país a se livrar do Escobar.
Falando em drogas, você já trabalhou no mercado financeiro, vive no meio dos artistas, como fica a relação com drogas? Nunca cheirei cocaína na vida. Conheço muita gente que usa cocaína, que já ficou viciado em cocaína, e que se ferrou por causa de cocaína. Mas eu nunca usei nem vou usar.
E maconha? Ah, já fumei maconha um monte de vezes.
Lembra da sua primeira experiência? Não [risos]. Maconha é muito comum. Eu fumei maconha em alguma época da minha vida, lá pelos 19, 20 anos, não fumei muito, e perdi o interesse, não fumo mais. Não me fez escrever melhor, não me fez pensar melhor. É uma droga que pode te causar um prazer, e faz isso mesmo, mas chega uma hora que... perdeu a graça para mim, não me interessei muito. Também nunca bebi muito. Mas eu prefiro muito mais beber um copo de vinho do que fumar maconha, pra te falar a verdade. Eu sou a favor de legalizar maconha. Radicalmente a favor. Acho essa posição de ter que legalizar as drogas uma posição muito superficial. Você não pode colocar todas as drogas no mesmo saco. O efeito que o crack tem em uma pessoa é radicalmente diferente do efeito que a maconha tem, que o álcool ou a nicotina têm. Tem que tratar as drogas de uma maneira diferenciada.
Acha que os artistas brasileiros deveriam dizer publicamente que fumam maconha ou usam drogas para defender a legalização? Conheço um monte de gente hipócrita que fuma maconha e não tem coragem de falar. Se você fuma maconha e não tem coragem de falar, tem alguma coisa errada na sua posição. Agora, é um problema fumar maconha no Brasil? É. Quando você discute ética ou moral, tem algum componente antiético ou antimoral em fumar maconha? Você precisa partir de algum código ético ou moral para avaliar uma situação qualquer e fazer um julgamento. Acontece que os códigos éticos e morais te dão julgamentos diferentes dependendo do contexto. Aqui na Califórnia, se tem um cara que está lá plantando maconha na casa dele, eu vou lá pegar a maconha e fumo. Tem alguma coisa errada nisso? Não! Isso é problema meu. Fui lá em Amsterdã, onde a maconha é legalizada, e fumei maconha no barzinho e tal: isso é radicalmente diferente de eu comprar maconha de um grupo armado que domina uma favela de uma forma violenta, sabendo que esse grupo armado vai usar esse dinheiro para comprar arma, subornar policial etc. Não é a mesma coisa. A situação é diferente, a avaliação ética e moral é diferente. O problema de fumar maconha no Brasil é que a estrutura na qual a maconha existe no Brasil é tal que transforma o ato de fumar maconha num ato de financiar grupos armados, policiais corruptos etc. Isso quer dizer que fumar maconha é ruim? Não. Isso quer dizer que a maneira pela qual a maconha existe no Brasil faz com que o ato de fumar maconha tenha consequências ruins.
Você parece mais em forma do que quando o entrevistei em anos anteriores. Mas vi que fez uma cirurgia recentemente. Como você tem cuidado da saúde? Foi a cirurgia que me colocou em forma [risos]. No meio da filmagem de Robocop, eu tive diverticulite, faltava um mês para filmar e eu não podia operar porque não queria parar o filme, é muito caro parar um filme desse tamanho. Então fiquei tomando antibiótico por 30 dias e monitorando a diverticulite e fazendo o filme. Foi muito ruim. Demorou uns 30 dias, estava sozinho no Canadá, foi ruim. Mas fui me operar no Brasil. Está vendo como eu acredito no Brasil [risos]? Fiz a cirurgia lá, escolhi fazer isso. E, como consequência, emagreci. Acordei um dia e "ih, estou magro". Acho que vou querer ficar magro. Foi isso, basicamente.
O que você mudou na sua dieta e como se exercita? Você vai aprendendo com a idade, né? Beber muito aos 20 anos e acordar no dia seguinte é diferente de você beber muito aos 40 anos e acordar no dia seguinte. O preço fica mais caro. Não como açúcar e não como farinha de trigo industrializada. Só isso. E faço esporte todos os dias, durante 1 hora. Corro ou jogo tênis ou pego onda ou treino jiu-jítsu. Tenho que fazer musculação pelo menos duas vezes na semana, senão você se machuca fazendo esporte. E dormir, dormir direito.
Qual a maior vergonha que você já passou? Estávamos eu e o Wagner Moura esperando o Jô Soares nos chamar para a entrevista em seu programa, na época do Tropa 2. Seria uma entrevista grande, em dois blocos. Eu estava numa loucura, viagem pra cima e pra baixo, com uma enxaqueca terrível. E, quando tenho enxaqueca, passo mal e vomito. Fui ficando com ânsia de vômito, passando mal, sem conseguir olhar para a luz. Pensei: não vou conseguir fazer. Então ouço o Jô chamar: "José Padilha e Wagner Moura" [risos]. Daí a gente entra e senta para dar a entrevista e o Jô: "Fala, Padilha, conta a história do filme", e eu ali, morto, com uma ânsia de vômito brutal. E o Jô perguntava, eu respondia. Daí chegou uma hora que vi que não ia rolar. Daí falei: "Jô, você me dá licença, vou ter que sair e já volto" [risos]. O Jô começou rir, achou que eu estava brincando. Daí, corri pro banheiro e vomitei horrores [risos]. O Wagner ficou lá conversando com o Jô. Quando estou mal assim e vomito, eu melhoro. Aí vomitei, joguei uma água na cara, me arrumei e voltei [risos]. Todo mundo aplaudiu. Ficou espirituoso até [risos].
Na época do Robocop, o ator principal, Joel Kinnaman, disse que você chegou a entrar num táxi em direção ao aeroporto quando levou um "não" do estúdio. Foi uma experiência difícil? É verdade, foi lá em Toronto. Foi um pouco jogo de cena, mas não tanto. O que aconteceu é que queriam mudar o roteiro inteiro com três semanas para as filmagens. Era uma loucura e eu disse que não ia fazer. O problema é que eu, inocentemente, ou talvez nem tanto inocentemente assim, tentei fazer, como vários cineastas tentam, um filme com o que eu queria dizer num negócio de US$ 120 milhões. Se eu tivesse investido US$ 120 milhões, alguma coisa eu ia querer controlar, é natural. Mas acho o filme bom e ganhou bastante dinheiro fora dos Estados Unidos.
Pretende repetir a experiência? Estou escrevendo um roteiro de um filme de ficção científica para a Warner Bros que vai ser por aí. Eu repetiria, mas de outro jeito. Uma das coisas que aconteceram no Robocop é que os caras tinham uma data para lançar, e a gente teve que botar o filme em produção sem ter roteiro completo. Isso é receita para o problema. Foi difícil, mas todo mundo queria acertar, né? Todo mundo queria fazer o melhor. No final das contas, é isso.
Sobre o que é esse filme de ficção científica? É baseado num conto que eu escrevi quando tinha 18 anos e nunca publiquei. Engraçado, né? Se passa numa caverna da Ucrânia, num monastério zen. É sobre filosofia da mente. Um dia estava numa mesa contando a história para um cara, e o Greg Silverman, da Warner Bros, ouviu e disse: "Quero fazer um filme disso, quero comprar esse conto". E eu: "Como assim? Mas eu nunca publiquei". "Não importa". Daí estou aqui fazendo isso. Estou também escrevendo um roteiro sobre a estrutura política e social de Nova York e lendo roteiros. E tem também os roteiros que desenvolvi no Brasil, um deles sobre a vida do Rickson Gracie.
Vai chamar o Wagner Moura para ser o Rickson? Não sei. Acho que não. O Wagner luta jiu-jítsu. O Rickson inclusive treinou ele para fazer o Tropa 2, lembra aquela cena de jiu-jítsu do pai com filho? É coreografia do Rickson. Ele é um cara incrível, eu tenho orgulho do Rickson, ele é um orgulho para o Brasil. A família dele desenvolveu uma arte marcial e não é fácil desenvolver uma arte marcial. Queremos fazer filmagens no Japão, nos Estados Unidos. E também tenho o roteiro da Batalha do Alemão. Começa com o Tim Lopes [jornalista da Globo morto por traficantes em 2002] e termina com a Polícia Civil cravando a bandeira naquele dia em que os traficantes tentavam correr de um lado para outro e as pessoas atiravam de longe, como se fosse um tiro ao alvo. É uma história grande, longa, não dá pra fazer ainda, mas eu vou tentar fazer os dois. Eu não desisti de fazer cinema no Brasil. Adoro fazer cinema no Brasil e vou fazer. Só estou dando um tempo aqui.
Assista a entrevista de José Padilha no player abaixo: