Ciclos: o que aprendi com minhas mais velhas
Jaqueline Silva: como é possível para nós, mulheres negras, estabelecer outra relação com nosso corpo
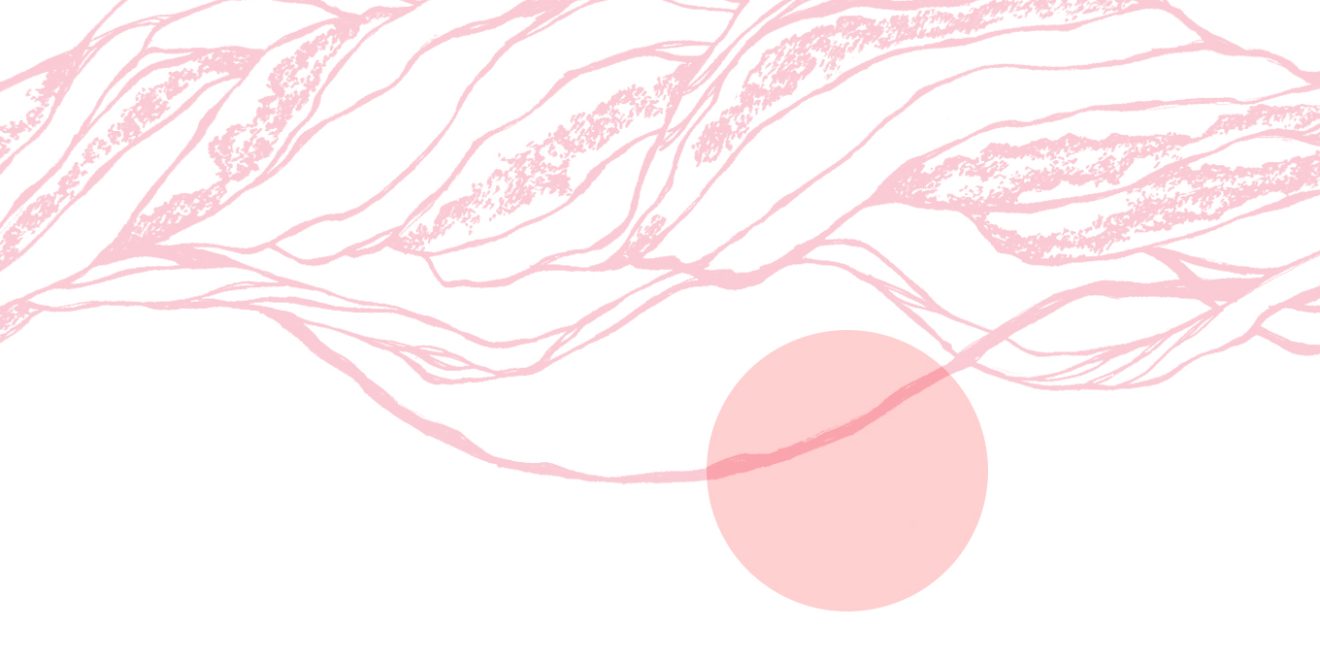
Créditos: Mariane Ayrosa
Por Jaqueline Silva
em 29 de julho de 2019
Com o avanço das pautas feministas da sociedade, diversas mulheres têm buscado novas formas de lidar com seus corpos. Não apenas questionando padrões de beleza e comportamento, mas também buscando falar abertamente sobre menstruação, sangue, útero, vagina, e se distanciando da ideia de sujeira e impureza perpetuada pela lógica patriarcal.
Essa busca também tem acontecido por meio de um retorno aos saberes ancestrais negros, indígenas, ciganos e de outros povos a respeito de formas sacralizadas e ritualizadas de lidar com o feminino.
Mas, seja em rodas ou em círculos sagrados, seja através de consultas individuais com terapeutas, “bruxas” ou “xamãs” modernos, é importante pensar quem são as mulheres que levam a cabo essas experiências e por quê. Não as que querem, mas as que podem, por exemplo, pagar por esses tratamentos, ficar recolhidas quando estão menstruadas, ter tempo, espaço e possibilidade de se “conectar com o seu sagrado”. Se a busca seria a mesma, esse é um caminho de fato possível para todas, pensando especialmente nas mulheres negras?
“Pensar em nossas ancestrais negras não é lidar apenas com memórias de dor”
Jaqueline Silva
Imaginemos um dos estereótipos mais comuns que atinge a nós, mulheres negras: seríamos mais fortes e teríamos mais resistência à dor, em oposição à fragilidade e à sensibilidade das mulheres brancas. Estas têm sua força negada e são associadas à ideia de fraqueza, o que é uma consequência perversa do machismo. No entanto, diversas de nós não se permitem procurar ajuda para tratar dores físicas e emocionais que sentem no decorrer dos ciclos e, quando procuram, correm o risco de serem rechaçadas por profissionais de saúde despreparados e, cabe dizer, racistas. De acordo com várias pesquisas, essa questão tem relação direta, por exemplo, com o número superior de mulheres negras que morrem em decorrência de problemas no parto.
Diante disso, como é possível estabelecermos outra relação com nossos corpos, nosso útero e nossos ciclos? Talvez a resposta dessa busca esteja nos saberes do nosso passado, nas memórias das nossas mais velhas e o que elas podem nos dizer sobre autocuidado e resistência. Pensar em nossas ancestrais negras não é lidar apenas com memórias de dor, mas também, especialmente, com saberes e fazeres sobre corpo, saúde e agricultura, os quais nunca foram ensinados nas escolas, tachados como coisa de gente atrasada, sem instrução.
Do outro lado do Atlântico
Tenho trabalhado na minha tese de doutorado em antropologia com ritos de iniciação femininos em Moçambique, no continente africano. Os ritos, que acontecem quando as meninas entram na puberdade, emergem no discurso das mulheres de forma fácil e, ao mesmo tempo, confidenciosa. Há quem condene, ache perigoso, desnecessário, antiquado. Outras já acham avançado ao extremo: dizem que, por enfatizar a aprendizagem sobre a vida sexual, incentivariam as meninas a se tornarem mulheres cedo demais. Há ainda aquelas que acham que esses ritos são a parte mais importante de ser mulher: é ali que se aprende a se cuidar, se limpar e como respeitar as mais velhas, entre diversos outros ensinamentos.
“Ao ser convidada a dançar junto nos ritos de iniciação femininos em Moçambique, experimentei outras formas de lidar com o corpo”
Jaqueline Silva
Durante o tempo em que permaneci vivendo junto dessas mulheres, vi nas cerimônias de iniciação um momento extremamente rico de cuidado mútuo, de compartilhamento de saberes dançados e cantados sobre a vida e o corpo – ações de sociabilidade e, por que não, de empoderamento. Aprendi com elas a compartilhar cuidados e a buscar por formas de resistência cotidiana que são invisíveis aos olhos masculinos. Ao ser convidada a dançar junto nos ritos de iniciação femininos em Moçambique, experimentei outras formas de lidar com o corpo, a sexualidade, a relação com as mais velhas, com noções de educação e comportamento e, principalmente, com outras formas de ser mulher – de ser mulher negra. Por meio da dança, simultaneamente, me reconheci e me estranhei diante das minhas interlocutoras e talvez, ao fim, tenha descoberto mais sobre mim mesma do que sobre elas.
O modo de existir de mulheres negras, tanto na África quanto na diáspora – aqui composta por mulheres organizadas em quilombos, terreiros ou atuando como rezadeiras e curandeiras –, nos lembra que essa busca pelo sagrado não precisa ser elitista. Olhando para nossa origem e nossas ancestrais, em atitudes como sentar-se ao pé das nossas mais velhas e ouvirmos atentamente suas histórias, conhecemos possibilidades simples e, ao mesmo tempo, potentes de lidar com o próprio corpo. Assim também são diversas as possibilidades de ser e se tornar mulher.

*Por Jaqueline Silva. Mineira de Itabira, nasceu de novo, anos mais tarde, na Rua da Palha, em Olinda, e se entendeu mulher negra num rito de iniciação em Angoche, Moçambique. Atualmente, é doutoranda em Antropologia pela UFMG.

LEIA TAMBÉM






