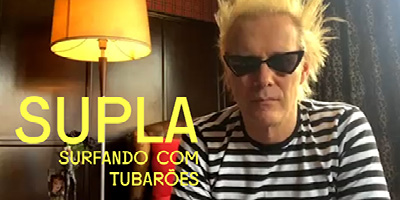Não, apenas uma história de amor. Assim é “Carol”, o filme estrelado por Cate Blanchett que estreia no Brasil amanhã
Fazia um frio de queimar a pele do rosto quando entrei numa sala de cinema no Soho, em Nova York, para ver “Carol”, que estreia nessa sexta, 15 de janeiro, aqui no Brasil. O frio era tanto que eu teria entrado até para assistir “Transformers Parte 35”. Mas o fato de ser um filme adaptado de um livro de Patricia Highsmith [1921-1995, cujo título original era “The Price of Salt”], ser estrelado por Cate Blanchett e tratar de um romance entre duas mulheres deixava tudo ainda mais quente – eu teria comprado um ingresso mesmo se não estivesse congelando do lado de fora.
Li “The Price of Salt” (publicado em 1952) há muitos anos, algum tempo depois de ter ido ao cinema assistir meu primeiro filme lésbico hollywodiano: “Personal Best”. Na época, 1982, eu tinha 15 anos e achava que duas mulheres jamais poderiam ficar juntas porque isso era, para dizer o mínimo, errado. Meses depois de ver o filme concretizei minha homossexualidade e entendi duas coisas: que jamais seria feliz ao lado de um homem e que por mais que sonhasse com Mariel Hemingway (a estrela lésbica de Personal Best) eu nunca a teria.
Entre “Personal Best” e “Carol” existem 33 anos e pouquíssimos outros filmes protagonizados por mulheres, especialmente gays. É um mundo que para algumas coisas evolui muito lentamente, e essa coisa de mulheres protagonistas no cinema (gays ou não gays) é uma delas.
Patricia Highsmith escreveu uma centena de livros e embora nunca tenha escondido sua homossexualidade com muito ímpeto foi apenas em “The Price of Salt”, seu segundo romance, que ela deixou escapar da vida para a ficção uma personagem lésbica e autobiográfica. A jovem Therese, com quem o personagem de Blanchett (Carol) tem um romance foi baseada em Highsmith e em uma passagem de sua vida. Em 1952, com medo da repercussão negativa, Highsmith se escondeu atrás de um pseudônimo para assinar a obra.
Eu lembrava vagamente do livro, assim como lembro vagamente de “Personal Best”, ainda que lembre com precisão de Mariel Hemingway, mas quando o filme começou minha memória foi sendo reconectada. Estou a cada dia mais convencida de que Blanchett é um evento nela mesma, a despeito do filme que faça, mas Rooney Mara, que interpreta Therese, salta aos olhos logo na primeira cena e eleva seu nível de atuação para o da mesma vibração de Blanchett.
O filme é quase uma unanimidade entre críticos e já é considerado um clássico. Algumas das críticas que li em jornais americanos falavam coisas como “’Carol’ talvez seja o filme da década”. Há o que se comemorar, sem dúvida: no filme todas as personagens femininas são lésbicas e são elas, portanto, que dão o tom da narrativa. Blanchett segue sendo estupenda e a história foi bem adaptada (por uma roteirista lésbica). Mas alguma coisa em “Carol” não me fisgou completamente, e eu quase me senti culpada por isso (que tipo de ser humano miserável não se envolve até a raiz com um filme lésbico estrelado por Cate Blanchett?)
Sei disso porque apesar do carisma das duas protagonistas e de não ter me pegado pensando “será que falta muito para acabar?” tampouco me peguei torcendo para que o romance desse certo (não vou dizer se dá ou não). Além disso a esperada cena de sexo entre Blanchett e Mara não me causou palpitações como as de “Azul é a Cor Mais Quente” (2013), ou sequer como a de “Mullholand Drive” (2001), de David Lynch, e uma das mais belas cenas de sexo entre duas mulheres que já vi na tela.
Mas em “Carol” somos presenteados com uma narrativa de dois pontos de vista: o filme começa com o de Therese e acaba com o de Carol, uma sacada inteligente de Phyllis Nagy, a roteirista que era amiga de Highsmith, que assim acaba dando peso igual para às duas personagens.
Outro acerto de Nagy é o fato de o lesbianismo não ser uma questão no filme e em poucas cenas fica claro que ele não vai falar de uma história de amor entre mulheres, mas de uma história de amor – e aí a gente entende como 33 anos podem fazer a diferença.
A fotografia é um desbunde, os diálogos são curtos, suficientes e fazem a história andar, ainda que o ritmo da narrativa seja lento, e no final, como acontece com quase tudo o que Highsmith escreveu, a gente fica com uma sensação meio Leminskiana de “preste bem atenção nas coisas que eu não disse” – porque é nesse espaço que quase tudo em “Carol” acontece.