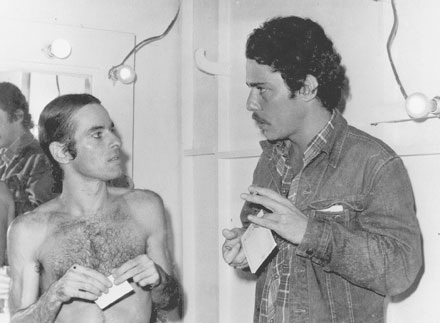Que tal passar três dias numa fazenda em Itu, no interior do estado de São Paulo, ao lado de 180 mil pessoas? Vai ter música eletrônica bombando sem economia de decibéis o dia todo – de todos os tipos, mas principalmente EDM, sua vertente mais acelerada e popular, capitaneada pelo DJ superstar David Ghetta. A cenografia é um misto de Cirque du Soleil com Disney World: há fogos de artifício, fontes de água, chuva de papel, performers fantasiados de fadas e gnomos. Drogas ilegais não são toleradas.
Visão do apocalipse ou um pedacinho do céu na Terra? Muita gente fica com a segunda opção. Prova é que os ingressos para a primeira edição brasileira do festival Tomorrowland, a ser realizado entre 1º e 3 de maio do ano que vem, evaporaram em apenas 3 horas, mesmo sem que nenhum artista tivesse sido anunciado. O ingresso mais básico para os três dias, esgotado, custava R$ 899. Para usar a área do camping pagava-se mais R$ 140 (mas há opções mais luxuosas de hospedagem, como um chalé para quatro pessoas, por R$ 7 mil).
O Tomorrowland é o maior festival de música eletrônica do mundo. A versão original ocorre duas vezes por ano em Boom, cidade de 20 mil habitantes na Bélgica. Em julho último aconteceu a décima edição, na qual 400 mil ingressos foram vendidos em apenas 5 minutos, segundo a ID&T Entertainment, agência responsável pelo evento – 68 mil deles teriam sido comprados por brasileiros. O “Full Madness Pass”, ingresso para os três dias de evento, saía por 237 euros, mas os pacotes mais completos, que ofereciam voo até o local com DJ e iluminação a bordo, podiam chegar a 3 mil euros.
É inegável que a música eletrônica se tornou um grande negócio. E está claro que o Brasil é um dos grandes mercados que movimentam esses milhões. Segundo Mauricio Soares, diretor de marketing da ID&T Brasil, o país representa cerca de 15% da audiência das mídias sociais do Tomorrowland. “É a mais vasta comunidade de fãs do mundo”, diz.
O mercado brasileiro de música eletrônica arrecadou R$ 3 bilhões com bilheteria e recebeu quase R$ 1 bilhão em patrocínios no ano passado
Mas o que atrai tanta gente, afinal? O advogado Marco Mello, 30 anos, via os vídeos do festival no YouTube e sonhava em ir. Este ano conseguiu, com mais sete amigos. “Foi melhor do que eu esperava, não dá para explicar”, conta. “A estrutura é perfeita, não há fila para nada. A música acaba sendo talvez só metade da experiência. Tem fogos, projeções, é um show. Antes, nas raves private era só música. Agora virou uma experiência mais completa. E tem menos gente usando drogas, o que é muito bom.”
O fenômeno não escapa aos pensadores contemporâneos, aqui e lá fora. O sociólogo francês Michel Maffesoli já declarou que o público dos festivais de música eletrônica quer “estar em fusão” com o outro, em um impulso que seria semelhante ao êxtase religioso: a busca é por um sentido de eternidade e de comunidade. “Trata-se de uma experiência primordial. Tudo contribui para a constituição de um corpo coletivo”, diz ele. Já o psicanalista brasileiro Tales Ab’Sáber, que se debruçou sobre o tema para escrever A Música do Tempo Infinito (2012), afirmou em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, à época do lançamento do livro, que “a balada é mais bonita, mais livre e mais erótica do que a vida. Ela mantém vivo esse potencial utópico, e ao mesmo tempo o reduz a um espaço socialmente aceito”.
Underground mainstream
Só no ano passado, segundo pesquisa do Rio Music Conference, um encontro anual de profissionais da área, o mercado brasileiro de música eletrônica arrecadou R$ 3 bilhões com bilheteria e recebeu mais quase R$ 1 bilhão em patrocínios. O Grupo RBS, filiado à Rede Globo, entrou na dança e passou a promover festas com grandes DJs internacionais. Roberto Medina, fundador do Rock in Rio, inseriu uma tenda exclusiva para o estilo na última edição do festival e já disse pensar em um evento 100% eletrônico para o futuro.
Nada mal para uma cena que há cerca de 15 anos lutava contra a lei e a opinião popular para existir. Na época chamadas de rave, as festas ao ar livre com DJs eram um prato cheio para batidas policiais e manchetes sensacionalistas, quase sempre envolvendo a venda ou o uso de drogas, em especial o então recém-chegado ecstasy.
Érick Dias lembra bem dessa época. “A gente sofria a repressão na pele, era um absurdo. Mas boa parte dessa discriminação existia porque as pessoas não sabiam do que se tratava. O novo traz incertezas, desconfiança. Com o rock, décadas antes, foi a mesma coisa”, compara o diretor do grupo No Limits, produtor do Tribaltech, do Chemical Music e da mais longeva das franquias brasileiras, a XXXperience, criada em 1996 . “O público da XXXperience era de 3 mil pessoas no início. Hoje é de 30 mil.”
Enquanto eventos atrelados a grandes marcas, como Motomix, Tim Festival, Skol Beats e Nokia Trends, desapareceram nesse meio-tempo, as raves underground viraram megafestivais, graças a fiéis frequentadores – ainda que não lhes faltem patrocínio e apoio, analisa Érick: “Alcançamos um nível de qualidade de estrutura, cenografia e line-up que não deve em nada aos padrões internacionais.”
O sociólogo e A&R da Uivo Records, Francisco Raul Cornejo, estava presente na primeira rave realizada no Brasil: a Jeaneration, promovida por uma marca de jeans no estádio do Pacaembu, em São Paulo, em 1992. De lá para cá, viu boa parte dos pioneiros da cena se profissionalizar. “A massificação dessas festas apagou um pouco os ideais que as motivavam no começo. Mas isso talvez seja inerente a qualquer manifestação que sai do underground e vai para o mainstream. No fim, o impulso que leva as pessoas a esses eventos persiste”.
“O que fazemos hoje é uma releitura dos anos dourados das ravez no Brasil, que para mim foram de 1999 a 2003” Mauro Farina
Um dos pioneiros a que Francisco se refere é Dmitri Rugiero, hoje integrante da Partymakers, empresa de produção e sonorização de festas. Dmitri estava em Ibiza em 1986 e 1987, quando a ilha, ainda um reduto hippie, começou a se transformar na meca das baladas. Um par de anos depois, quando quatro DJs ingleses – Paul Oakenfold, Johnny Walker, Danny Rampling e Nicky Holloway – resolveram replicar no Reino Unido o clima de liberdade que testemunharam por lá, ele se mudou para Londres e viu tudo de perto, mais uma vez. Era o nascimento do acid house, das festas em galpões e fazendas para até 60 mil pessoas que duravam dias, impulsionadas, claro, pela droga do amor, o “e”.
O futuro agora
De volta ao Brasil em 1996, criou a Megavonts, outra das primeiras raves do país. E viu, em coisa de três anos, o público galopar de 150 para 10 mil pessoas. “Quando a concorrência começou a ficar muito forte e o psy trance passou a dominar, eu desencanei”, conta, se referindo ao estilo de música mais frenético que teve gênese nas raves de Goa, na Índia, no final dos 80, e que predominou nas raves brasileiras até a chegada do EDM (na Europa e nos EUA, o house e o techno, criados por DJs e produtores negros de Chicago e Detroit, respectivamente, sempre ocuparam maior espaço). “A qualidade na produção das festas, hoje festivais, melhorou. Mas acho que perdemos bastante do feeling, do sentimento de família que existia. A gente não acreditava em Deus, mas música eletrônica era nossa religião e a gente pensava que ela ia mudar, se não o mundo, pelo menos a cabeça das pessoas.”
Em sua opinião, as festas que hoje acontecem nas ruas e em locais abandonados de São Paulo, como Voodoohop, Metanol e Free Beats, mantêm o caráter subversivo das primeiras raves. “O que fazemos hoje é sem dúvida uma releitura dos anos dourados das raves no Brasil, que para mim foram de 1999 a 2003. A ideia é sair dos clubs, democratizar o evento, a música e fugir de clichês”, explica Mauro Farina, idealizador, curador e DJ da Free Beats. “A experiência e liberdade de fazer uma festa na rua não podem ser copiadas por nenhuma marca ou festival. É muito mais genuíno, de graça, feito por pessoas que acreditam no que fazem.”
Há festivais que, por mais que cresçam ano após ano, tentam manter o espírito underground. É o caso do Boom, festival autossustentável de Portugal, e o Burning Man, que acontece uma vez por ano no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. “Mas é um caso à parte”, adverte Lourenço Bustani, fundador e CEO da consultoria Mandalah e rato de festivais de música eletrônica. “Comparar o Burning Man com outros festivais é um desserviço. Lá dentro não circula dinheiro [só se paga para entrar, cerca de US$ 400], não há patrocinadores, é tudo na base do escambo. É o futuro agora. Um laboratório que propõe soluções para questões contemporâneas, como consumo, individualidade e sustentabilidade. Quero ir todos os anos até o resto da minha vida, se possível.”
Para Lourenço, o Burning Man conseguiu preservar sua essência muito por conta das situações adversas em que ele acontece. Tempestades de areia são frequentes e toda a água disponível tem que ser levada pelos próprios frequentadores. “As pessoas que não estão na mesma sintonia são naturalmente expelidas”, acredita.
“É comum romantizarmos o passado”, diz Francisco Cornejo. “E não dá para dizer que outros festivais são menos genuínos do que o Burning Man”, acredita Lourenço. “Quando a música bate, ela bate. E tudo bem se é o David Ghetta no Tomorrowland ou o DJ que só você conhece num galpão ocupado. Eu fico com a segunda opção, mas isso é pessoal. Não existe festa melhor que a outra. A melhor é sempre a que está por vir”, arremata Dmitri.