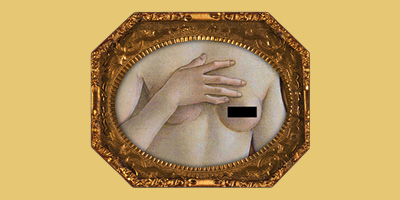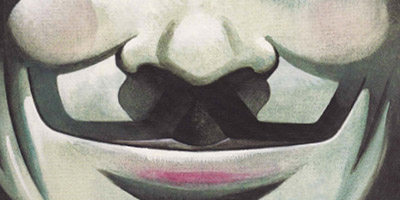Em “A alma que caiu do corpo”, o quadrinista e antropólogo André Toral narra o contato violento entre indígenas e brancos na história do Brasil
Em uma narrativa que une antropologia e quadrinhos, A alma que caiu do corpo expõe a complexidade das relações entre indígenas e brancos no Brasil, desde o início da colonização. O livro reúne nove histórias escritas e desenhadas pelo quadrinista e antropólogo André Toral, entre 1991 e 2010. “A omissão do Estado, a grilagem de terras e sua transformação em pastagem, o desrespeito aos direitos dos povos indígenas. Tudo tristemente atual. Só faltou o fogo”, diz o autor, comparando uma história feita nos anos 90 com o cenário recente, de aumento dos incêndios florestais na Amazônia e Pantanal.
Ao longo de mais de 30 anos atuando como pesquisador, consultor e indigenista, André registrou os mais diversos relatos sobre o processo de colonização e resolveu juntar tudo na HQ, que foi feita com base em rascunhos produzidos em campo, entrevistas e pesquisa bibliográfica. “Mistura história e pesquisa, mas, acima de tudo, é uma obra poética. É como eu vejo os grupos indígenas a partir do meu local de fala, do meu privilégio”, explica o autor.
André Toral teve seus primeiros quadrinhos publicados na revista Animal, publicação underground dos anos 80. Depois disso, lançou outros quatro álbuns, entre ele, Chamigo Brasileiro – Uma História da Guerra do Paraguai (1999), que venceu o prêmio HQMIX, e Holandeses (2017), finalista do Prêmio Jabuti.
Batemos um papo com o quadrinista, que dá detalhes sobre a HQ, comenta sobre o papel dos não-indígenas na luta contra o genocídio e a pluralidade cultural presente nas mais de 300 etnias que vivem no Brasil. “Poderíamos aprender muito com as diversas opções políticas presentes nesse mosaico”, diz.
Trip. Como começou essa história de unir antropologia e quadrinhos?
André Toral. A linguagem dos quadrinhos é poética, uma forma de conhecer e falar sobre o mundo. Eu me formei e atuei como antropólogo e, durante muito tempo, achei que antropologia era uma coisa séria e que os quadrinhos eram arte de segunda categoria. Com o tempo, fui perdendo esse complexo.
Qual a potência da linguagem dos quadrinhos em abordar temas “sérios” e espinhosos? A vantagem do quadrinho é que é acessível, barato. Todo quadrinista é como um diretor de cinema com baixo orçamento, é quem cria os personagens, os cenários, o casting. Por isso existem quadrinhos que falam em nome de todas as minorias, virou uma arma poderosa para pessoas pretas, de periferia, LGBTs falarem sobre si. Existe uma aproximação dos quadrinhos com a militância política e a internet potencializou isso.
Que tipo de reflexão você quis provocar com a HQ A alma que caiu do corpo? Esse livro é uma paixão minha, vem da vontade de entender nosso passado, nossas raízes. São povos que estão no Brasil há mais 30 mil anos, como datou a arqueóloga Niède Guidon, e penso que todo brasileiro deveria ter orgulho de suas raízes. Nossa história não começa a partir do descobrimento, existe um pensamento ancestral que nos precede. Os povos indígenas têm culturas tão diferentes que te forçam a pensar que não faz sentido acreditar em uma só cultura, todas estão em pé de igualdade. Para mim, representam a alteridade absoluta.
Por que você escolheu esse título? É o título da menor história do livro, que tem apenas uma página. É uma história que ouvi dos índios Kaingang, que me disseram que a alma é algo que não fica bem preso ao corpo, principalmente, quando são crianças. Qualquer acidente, queda ou susto pode causar a perda da alma, ela pode “cair” e ser apropriada por outros seres. Quando ouvi, tive aquele impacto: estou diante de outras ideias, de uma visão de mundo totalmente diferente da minha. É como estar em um território onde tudo é novo e se propor a entrar nessa viagem, abrir os ouvidos e aprender. Do ponto de vista do branco, é um tipo de pensamento mágico. Do ponto de vista deles, é algo absolutamente ordinário, normal.
Seu livro mostra episódios de resistência indígena que desmistificam a ideia de que foram passivos diante do processo de colonização. Você concorda? Sim. Eles nunca foram passivos, todos os povos têm uma estratégia política para conviver com os brancos, de negociação. Muitos grupos no início da colonização não esperaram o contato com os europeus, foram eles quem buscaram, muitas vezes, de forma pacífica. Hoje, eles podem não ter ampla representação política no Congresso, mas isso não significa que não tenham estratégias de poder. A marca da população indígena no Brasil é sua pluralidade cultural e mística, com bases de poder sempre locais. Poderíamos aprender muito com as diversas opções políticas presentes nesse mosaico. Quando comecei a trabalhar com grupos indígenas nos anos 70, a população total era de 170 mil pessoas no Brasil. Hoje, são quase 800 mil. Eles sobreviveram ao regime militar, à transamazônica, têm uma resiliência histórica.
Qual mudança você observou dentro do movimento indígena ao longo dos 30 anos trabalhando em aldeias? A grande mudança de quando comecei, nos anos 70, é que os indígenas se tornaram mais protagonistas do movimento, assumiram sua autorrepresentação. Antes, a gente sentia que, para haver uma interlocução, era preciso ter instituições mediando, como a Funai, as igrejas. Muitos não falavam bem português, hoje falam. Eles não precisam de antropólogos de fora que pesquisem suas culturas, existem antropólogos indígenas que fazem isso.
Qual o papel dos não-indígenas na luta indígena? Em primeiro lugar, vem o apoio total total às pautas do movimento. Em segundo lugar, vem repensar a forma como não-indígenas se colocam em relação aos indígenas, que sofrem discriminação racial e de classe. O Mairu Hakuwi vem denunciando o racismo contra os Karajás nas redes sociais, por exemplo. A própria palavra “índio” tem uma carga que a gente desconhece. Eu só fui perceber isso quando estava andando numa aldeia Karajá e um indígena que não gostava de mim me chamou de “branco”. Senti uma paulada, porque isso apaga minha identidade individual, me coloca como um representante dos erros e violências que historicamente foram cometidos pelos brancos. Aí eu senti algo próximo do que uma pessoa sente quando é chamada de “índio”.
Em meio a uma crise sanitária mundial, vemos a aceleração da devastação ambiental, que torna as populações indígenas ainda mais vulneráveis. Por quê? O que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia não é acidental, é articulado politicamente. E qual a estratégia? Quando você detona as condições de uma área de proteção ambiental, quando você toca fogo, você não destrói só a vegetação e mata os animais, você destrói a territorialidade dos indígenas. É uma estratégia para destruir e invadir suas terras, descaracterizar áreas de domínio da União. Temos o dever político de nos posicionar em favor do meio ambiente e dos indígenas. Não adianta colocar emoji de carinha triste nas redes sociais enquanto a Amazônia tá queimando. Como autor de histórias em quadrinhos tento participar um pouco dessa discussão.
Créditos
Imagem principal: Divulgação